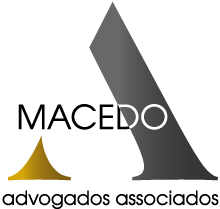CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – Art. 557. “O relator negará seguimento a recurso ou confronto com súmula do respectivo tribunal ou do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior”.
A nova disposição do artigo 557, consagra a possibilidade de qualquer recurso ter seguimento negado pelo relator, quando manifestamente contrário (fundamentos jurídicos) à súmula do tribunal que se recorre ou tribunal superior.
Pelo dispositivo em análise, o Relator não fica obrigado a indeferir o recurso que foi interposto contrariando a súmula, a despeito do teor imperativo da norma. O direito é dinâmico e quando necessário deve ser revisto, sob pena de cercear o direito de defesa do recorrente.
A súmula constitui-se de tese jurídica sufragada pela maioria absoluta dos membros do tribunal e consistirá precedente na uniformização da jurisprudência. Art. 479 do CPC.
O Supremo Tribunal Federal instituiu a Súmula da Jurisprudência Predominante por emenda de 28.8.1963 ao seu Regimento Interno, a fim de registrar as teses jurídicas acatadas com firmeza nas decisões.
O atual regimento interno do Supremo Tribunal Federal cuida da matéria no seu artigo 102, quatro parágrafos e no artigo 103, dispondo que “a jurisprudência assentada pelo Tribunal será compendiada na Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Pelo disposto no artigo 103 do seu Regimento Interno, a jurisprudência formada pelas súmulas não se torna imutável, podendo ser revista pela proposição de qualquer de seus ministros para sua alteração ou cancelamento.
De acordo com esta regulamentação, as súmulas dos nossos Tribunais têm restritivamente caráter de precedente na uniformização da jurisprudência, impondo-lhe maior estabilidade e facilitando os julgamentos dos casos repetitivos.
Não se convertem em norma legal, “com força de Lei”, como constava do anteprojeto do Código de Processo Civil e nem mesmo tem o efeito vinculativo adotado pelo sistema do common law dos Estados Unidos, o que atualmente é objeto de proposta de emenda constitucional.
As disposições do artigo 557 impõem aos ilustres julgadores um exame cuidadoso das razões de recurso, com o fim de constatar possíveis fundamentos novos não considerados quando da inclusão da tese na súmula.
A atual sistemática pode atender os objetivos de maior estabilidade da jurisprudência, possibilitando melhoria e celeridade nos trabalhos processuais simplificando o julgamento das ações repetitivas que são hoje o motivo maior da demora na prestação da tutela jurisdicional.
Tem esta sistemática a vantagem dos benefícios narrados sem cumular com os resultados negativos do “efeito vinculante” e “efeito erga omnes” que acompanha o projeto original da proposta de emenda constitucional que modifica a redação do § 2º do artigo 102 da Constituição Federal.
A redação da proposta é a seguinte:
“§ 2º – Terão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e da Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e Municípios, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade de lei ou ato normativo, e as definitivas de mérito, se o Supremo Tribunal Federal assim o declarar, pelo voto de dois terços de seus membros” (Diário do Senado Federal- 13.8.97)
Nos termos em que foi apresentada a proposta original, a emenda em questão causará o engessamento da atividade dos juizes de primeira instância, submetidos aos efeitos vinculantes das decisões do Supremo Tribunal Federal.
O atual sistema permite a vinculação das causas em julgamento nas instâncias superiores aos efeitos das súmulas de jurisprudência, com a liberdade do julgador poder aplicá-la ou não.
Essa liberdade possibilita a revisão da jurisprudência quando novos argumentos forem apresentados, mantendo a independência dos juizes de primeira instância onde efetivamente se forma a jurisprudência.
É na primeira instância que os fatos que interessam à sociedade e necessitam da aplicação da vontade concreta da lei, têm a porta de entrada para o Poder Judiciário e só nesta instância ocorrerá o debate sobre os argumentos e fundamentos jurídicos que levarão à conclusão sobre a necessidade ou não de se alterar as interpretações precedentes.
Há ainda a previsão do recurso de agravo contra a decisão do relator que denegar o seguimento do recurso contrário à súmula do respectivo tribunal ou tribunal superior, garantindo a apreciação da matéria por juízo colegiado. (§ único do art. 557, com a redação determinada pela Lei nº 9,139, de 30 de novembro de 1995)
Na lição de Moacyr Amaral Santos, trata-se de uma terceira espécie de agravo: “um agravo que não é adjetivado como os outros dois, e tem um perfil mais singelo”. O prazo para sua interposição é de cinco dias, devendo ser processado nos próprios autos, não se abrindo vista para a parte contrária.
A introdução do efeito vinculante nas decisões do Supremo Tribunal Federal em nosso sistema jurídico é irreversível e até necessária para aliviar o acumulo de processos que estão abarrotando o STF e o STJ.
É importante que essa modificação tenha a moderação necessária para que os juizes de primeira instância não percam a sua independência e liberdade na aplicação da tutela jurisdicional, com a conseqüente extinção do princípio do livre convencimento, e nem façam do direito uma ciência estática, insensível às modificações inerentes ao relacionamento humano.
Autor: Antonio Luiz Bueno de Macedo
OAB/SP nº 40.355
Constituição Federal: – “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” – art. 5º inciso XXXV-
“Embora o destinatário principal desta norma seja o legislador, o comando constitucional atinge a todos indistintamente, vale dizer, não pode o legislador e ninguém mais impedir que o jurisdicionado vá a juízo deduzir pretensão”.
O texto constitucional consagrou um direito público subjetivo exercitável até mesmo contra o próprio Estado, que não pode recusar-se à prestação da tutela jurisdicional. Consiste no princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, conhecido como direito de ação.
O princípio da acessibilidade ampla ao Poder Judiciário nasceu com a Constituição de 1946 que tinha redação quase idêntica à atual: “A lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão de direito individual”.
Entretanto observam os doutrinadores que o princípio já estava contido na Constituição de 1891 de forma implícita à sistematização constitucional então adotada.
Portanto desde a constituição de 1946 o Texto Constitucional vinha conferindo proteção para o acesso garantido ao Poder Judiciário, denominado direito público subjetivo de ação.
O texto atual substituiu a expressão lesão de direito individual para lesão ou ameaça a direito, bastando a existência em favor de alguém de um direito, ainda que não individual, portanto também direito e interesses coletivo ou difuso, para poder exigir do Estado a tutela jurisdicional.
Com a supressão do termo individual a atual constituição conferiu ao dispositivo uma dimensão ilimitada, quebrando o conceito individualista do direito a tutela jurisdicional.
Isto significa que lei alguma, assim como, qualquer norma administrativa, poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão de direito, quanto à sua constitucionalidade, nem poderá dispor que ela seja invocável para solução dos litígios.
“Assume, desta forma, singular importância no Estado de Direito a função jurisdicional, pois através do seu funcionamento é que se terá uma ordem jurídica plenamente garantidora dos direitos instituídos pela lei material; ela é, pois, a função estatal de amparo à ordem jurídica positiva, editada pelo próprio Estado”.
Em decorrência desse princípio, surge o direito de assistência jurídica aos que não possuem recursos para o seu exercício. Art. 5º LXXIV- O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita, sendo este conceito também mais abrangente do que o das constituições anteriores que previam a assistência judiciária.
A assistência jurídica, inclui a assistência extrajudicial e a consultoria, as quais devem ser prestadas pelo Estado, pertinentes à orientação legal e a propositura das ações e bem assim a defesa nas ações contra eles propostas.
Como já foi dito e repetido, justiça não se faz apenas com a existência dos comandos legais e nem tão pouco com o simples acesso ao Poder Judiciário, são necessários os instrumentos que viabilizem a prestação justa da tutela pretendida.
São inúmeros os fatores que dificultam tanto o acesso à Justiça, como a prestação de uma tutela justa, que atenda à pretensão formulada. Segundo Horácio Wanderlei Rodrigues, Professor da Universidade Federal de Santa Catarina :
- a) carência de recursos econômicos por parte da população para fazer frente aos gastos que implicam uma demanda judicial;
- b) desinformação muito grande com relação à legislação vigente e conhecimento dos instrumentos processuais existentes para garantir esses mesmos direitos;
- c) “legitimidade individual para agir”;
- d) exigência da presença do advogado em todo e qualquer processo;
- e) falta de instrumentos processuais acessíveis e úteis na resolução dos conflitos de interesses que são levados ao Judiciário;
- f) a morosidade existente na prestação jurisdicional; a carência de recursos materiais e humanos; a ausência de autonomia efetiva em relação ao Executivo e ao Legislativo; a centralização geográfica de suas instalações, dificultando o acesso de quem mora nas periferias; o corporativismo de seus membros; e a inexistência de instrumentos de controle externo por parte da sociedade;
A Constituição de 1988:-
A Atual Constituição trouxe um avanço no direito processual com introdução no sistema, de instrumentos estranhos do direito positivo, para dar curso às demandas de natureza coletiva, tutelando direitos e interesses transindividuais com o rompimento do tradicional conceito de legimidade.
No artigo 5º, Capitulo dos Direitos e Garantias Fundamentais estão instituídos o Mandado de Segurança Coletivo, inciso LXX; Mandado de Injunção, inciso LXXI; a Plenitude Da Liberdade para Associação, incisos XVII e XVIII; a Garantia de Funcionamento das Associações, inciso XIX; a Legitimidade para a representação dos associados, inciso XXI;
Trouxe ainda no capítulo dos Princípios Gerais da Atividade Econômica, artigo 170 inciso V, a garantia de defesa do cidadão nas relações de consumo e com especial destaque a elevação da condição de Ação Constitucional para as Ações Civis Públicas, artigo 129 III.
Instituiu a Defensoria Pública como instituição essencial à função da jurisdicional do Estado incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, art. 134
Com esses avanços constitucionais vieram as modificações do direito positivo com alterações na legislação, com profundas modificações no Código de Processo Civil, alterando-se dispositivos referentes a recursos, procedimentos especiais para ação de consignação em pagamento e usucapião, dispositivos do processo de execução e do recurso de agravo de instrumento e a instituição da Ação Monitória e com especial destaque para o instituto da Tutela Antecipada, tudo visando a prestação da tutela mais rápida e mais eficiente.
Nessa etapa editou-se a Lei que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, aproximando o Poder Judiciário daqueles de menor capacidade financeira, com isenção de custas e dispensa da contratação de Advogado em causas de valor até 20 Salários Mínimos, alem de outras medidas de celeridade processual, editou-se a Lei 9307/96 que dispõe sobre a Arbitragem, regulamentando a solução dos litígios sem a participação do Poder Judiciário, o que vem contribuir para o seu desafogamento.
Buscou-se a garantia de acesso à tutela jurisdicional dos impossibilitados economicamente, regulamentando a Defensoria Pública da União e estabelecendo normas gerais para a organização nos Estados e Municípios através da Lei Complementar nº 80/94, com a assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita, aos necessitados, compreendendo a conciliação extrajudicial; o patrocínio e a defesa nas ações penais e cíveis; atuação junto aos estabelecimentos de polícia e penitenciárias; assistência em processos administrativos e nos Juizados Especiais; e defesa dos consumidores.
E, de grande importância processual foi a regulamentação da Lei 7.347/75, Lei das Ações Civis Públicas, de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, e aos direitos e interesses difusos e coletivos de um modo geral à qual seguiram-se a lei 7853/89 sobre direitos das pessoas portadoras de deficiências; lei 8069/90 Estatuto da criança e do adolescente; Lei 8078/90, código de defesa do consumidor; Lei 8429/92 da probidade na administração pública; Lei 8884/94 sobre abuso do poder econômico, todas amparando a tutela coletiva em sintonia com a atual evolução das relações sociais, cada vez mais globalizada.
Com essa gama de legislação destinada a tutelar direitos e interesses transindividuais destaca-se a nova conceituação de coisa julgada das sentenças que têm eficácia erga omnes e ultra partes.
Conclusão:-
A necessidade de reformas e aperfeiçoamento dos instrumentos já à disposição para o efetivo exercício do direito à Tutela Jurisdicional não se esgotaram e muito ainda tem-se a fazer, tendo como mais urgente, a viabilização da Defensoria Pública, a criação de condições humanas e materiais para o Poder Judiciário atender os objetivos dessa reforma, o que só acontecerá com a existência de um controle externo efetivo, exercido pela sociedade.
É incontestável entretanto, que as reformas já empreendidas trouxeram alterações profundas no chamado direito de ação, com modificação da clássica divisão da tutela jurisdicional em: tutela de conhecimento, tutela de execução e tutela cautelar.
A antecipação parcial ou total da tutela nos leva a acrescentar uma sub-divisão em tutela definitiva e tutela provisória.
Alteraram-se também os mecanismos da tutela, antes aplicada apenas para o atendimento dos direitos individuais em demandas promovidas apenas pelo titular do direito violado, agora, têm-se os mecanismos para a tutela de direitos subjetivos individuais sub-dividida: tutela individual e tutela de direitos transindividuais e ainda a tutela de controle de constitucionalidade das normas e das omissões legislativas, pelo sistema difuso e concentrado.
BIBLIOGRAFIA:
NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do Processo Civil na Constituição Federal, 5ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 1999;
ALVIM, Arruda. Tratado de Direito Processual Civil, Editota Revista dos Tribunais, 1990;
-REVISTA de Informação e Debate nº 1, Direito Processual Civil, Ed.Jurídica Brasileira, 1999;
BASTOS, Celso Ribeiro e MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição Brasileira, Editora Saraiva, 1989;
FRANCO, Alberto Silva e STOCO, Rui. Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudêncial, Editora Revista dos Tribunais, 1999;
CÓDIGO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, Comentado por vários autores, Ed. Forense Universitária, 5ª Edição, 1997.
Autor: Antonio Luiz Bueno de Macedo
OAB/SP nº 40.355
Este trabalho tem por finalidade trazer considerações a respeito da intervenção do terceiro, na modalidade de oposição, no processo cautelar.
No Direito Processual tradicional, o Processo Cautelar, que tem como objetivo servir ao processo e não ao direito da parte, visando dar eficiência e utilidade ao instrumento que o Estado engendrou para solucionar os conflitos de interesse entre os cidadãos. É um processo instrumental, provisório e acessório.
A Intervenção de Terceiros consiste em permitir àqueles que alheios à relação processual possam intervir, no processo em que não sejam partes, para defenderem seus direitos ou interesses, a fim de reduzir os perigos da extensão dos efeitos da sentença. Assim agindo, passam a sujeitar-se aos efeitos da sentença.
Pela regra geral do instituto da intervenção de terceiros e do processo cautelar fica evidente uma situação de incompatibilidade de objetivos; os terceiros na maioria das modalidades, visam a defesa de direitos ou interesses que deverão ser submetidos a julgamento com uma sentença definitiva e com força de coisa julgada.
A instrumentalidade dos provimentos cautelares ao processo principal (cognitivo, executivo), visando meramente a manutenção de uma situação fática até o julgamento da ação principal, conduz à conclusão de que inexiste pretensão de direitos ou interesses a serem defendidos por terceiros, provocando o confronto do entendimento explanado pela doutrina e jurisprudência.
O emérito jurista Moacir Amaral Santos, de forma generalizada admite a possibilidade da intervenção de terceiros, tanto no processo de conhecimento como também nos processos executivos ou cautelares, sem maiores esclarecimentos e fundamentos.
Nelson Nery Junior, Rose Maria Andrade Nery, não faz qualquer referência quanto à admissibilidade das intervenções de terceiros no processo cautelar, admitindo-as apenas no processo de conhecimento : “É instituto típico do processo de conhecimento, de sorte que náo se admite no processo de execução, seja por título judicial ou extrajudicial.
Para Cândido Rangel Dinamarco não há qualquer espécie de processo cautelar em que de modo absoluto se exclua a possibilidade da intervenção de terceiro. Talvez onde haja as menores possibilidades seja nos procedimentos de protestos, notificações e interpelações (CPC, arts. 867 ss.), em que sequer o demandado é chamado a participar em contraditório e nem mesmo admite-se resposta…Vistas as coisas agora por outro lado (a partir das espécies de intervenção), é extremamente improvável a configuração de alguma hipótese em que seja admissível a oposição em qualquer processo cautelar.
Quando cuida da intervenção específica de Oposição, Pontes de Miranda defende a sua admissibilidade em qualquer procedimento de cognição, inclusive nos especiais (ações possessórias, ação de consignação em pagamento, ação de depósito, ação de anulação e substituição de títulos aos portador, ação de prestação de contas, ação de nunciação de obra nova, ação d usucapião de terras particulares, ação de divisão e de demarcação, ação de inventário e partilha). O festejado jurista vislumbra a admissibilidade da oposição no processo de execução e até nos procedimentos de jurisdição voluntária, silenciando-se entretanto no que se refere ao processo cautelar.
A intervenção do terceiro na modalidade Oposição, regra geral, tem oportunidade quando o terceiro pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu, poderá até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos.
O primeiro obstáculo para a admissibilidade da oposição no processo cautelar está no objeto deste, que é o da segurança a ser oferecida ao processo principal, inexistindo no processo cautelar pretensão sobre direito material ou pessoal, direito substancial a ser tutelado, faltando-lhe assim um dos requisitos da oposição, que é a pretensão contrária às do autor e do réu.
Outro obstáculo está no conceito dispensado pelo Código Processual à oposição, que nem mesmo a conceitua como interveniente, tratando-a tanto como incidente, chamada interventiva, como demanda autônoma, ao determinar no artigo 57, que para sua promoção deverá ser observado os requisitos exigidos para a propositura de ação (art. 282 e seguintes), com distribuição por dependência e se oferecida antes da audiência (art. 59), será apensada aos autos principais correndo com ele simultaneamente; se promovida após a audiência tramitará em autos autônomos.
O sistema processual do nosso código adotou os dois sistemas de oposição, a chamada interventiva sempre que vier antes da audiência de forma que aquele que não é parte mas pretenda o mesmo bem ou direito em torno do qual litigam as partes, promoverá uma nova ação abrangendo aquela relação processual já existente.
Se esse terceiro apresentar oposição depois de iniciada a audiência, dará formação a um processo novo, autônomo, com procedimento próprio como dispõe o artigo 60 do CPC., devendo ser julgada sem prejuízo da causa principal.
Entretanto, quanto à Oposição promovida antes da audiência, esse obstáculo não deve ser considerado, pois ainda que o código a trate como um processo novo, distribuído por dependência a autuado em apenso, com citação dos opostos constituindo uma nova relação jurídica processual, o opoente se torna parte do processo, recebendo a tutela conjuntamente com autor e réu. Deve ser tratado como mero incidente processual e não nova ação ou novo processo.
A posição defendida por Cândido Rangel Dinamarco e Pontes de Miranda que não se posicionam pela impossibilidade absoluta e nem mesmo pela admissibilidade generalizada das intervenções e entre elas a oposição, devendo cada situação concreta ser avaliada de forma individualizada, até porque a norma processual não apresenta nenhum impedimento para a intervenção nos processo cautelares, com fez expressamente com o procedimento sumário, desde que haja compatibilidade entre a modalidade de intervenção e o tipo de tutela cautelar reclamada.
Como fundamento desse posicionamento, Cândido R. Dinamarco cita a Denunciação da Lide na Produção Antecipada de Prova, uma intervenção de terceiro que pressupõe a existência de sentença condenatória do denunciado, requisito inexistente na Ação Cautelar, mas que tem sido aceita pela Jurisprudência, conforme ementas a seguir, a fim de garantir a eficácia da prova produzida em face de terceiros, que serão denunciados na lide principal:
“MEDIDA CAUTELAR – Produção antecipada de provas – Denunciação da Lide – Admissibilidade, eis que tal medida não encerra uma lide, mas sim um meio do qual se vale o proponente com vistas a reunir provas em caráter preventivo – Necessidade, no entanto, de que o denunciante possa exercer a chamada garantia própria em face do denunciado, resultante automaticamente da lei ou do contrato, e não de uma simples possibilidade de direito de regresso – Observância do disposto no art. 70,III, do CP – TJSP – RT 768/218:
“Voto Vencido – A medida cautelar de produção antecipada de provas importa em antecipação de uma fase processual, constituindo exigência indeclinável de que a instrução se faça com a observância do contraditório. Assim é possível a denunciação da lide, pois os que serão parte no processo principal devem participar dos atos de instrução, sejam eles efetivados antes ou após sua instauração. – STJ – RT 758/156
Na situação concreta, o denunciado não assume a posição de litisconsórte, nem será condenado a cumprir a obrigação que provocou a denunciação, mas figurará como assistente e terá como válida e eficaz a prova produzida.
Uma das intervenções de terceiro que tem sua admissibilidade adequada para todos os processos cautelares é a Nomeação à Autoria, que cuida da correção do polo passivo, sem o que estará inviabilizando o processo principal pela ilegitimidade de parte.
Existe ainda consenso a respeito da Oposição nos processos cautelares em que se buscam Cautelas Satisfativas, as quais resvalam nos limites da tutela cognitiva, ou mesmo desfiguram a divisão rígida do processo em conhecimento, execução e cautelar. Com o titulo de Busca e Apreensão, usando do procedimento previsto no livro da Ações Cautelares, são concedidas tutelas que atingem diretamente as relações jurídicas amparadas pelo direito substâncial.
Porem a doutrina mais agressiva que atualmente vem ganhando adeptos e que alarga a possibilidade de admissão das Intervenções de Terceiros nos Processos Cautelares é a de Ovídio Baptista da Silva, tratada por Kazuo Watanabe, sobre a cognição sumária da tutela cautelar.
“É nesse requisito, precisamente, que sua teoria se mostra mais ampla do que as demais, pois seu entendimento é no teor de que “a proteção cautelar não se destina a servir de instrumento para proteção da tutela jurisdicional comum, como supõe a doutrina dominante, mas se orienta, indiscutivelmente, para a salvaguarda dos direitos subjetivos, ou de outras situações igualmente protegidas pelo direito objetivo” podendo ter lugar a proteção “nos casos em que indique, precisamente, a situação objetiva para cuja proteção se pede a medida cautelar”. Dá se o nome de “situação cautelanda” às “variadas situações que se possam mostrar carentes de proteção cautelar”, integrada por direitos subjetivos, pretensões, ações e “até as simples exceções”, pag. 135.
Entendendo a tutela cautelar como uma tutela disponível para salvaguarda dos direitos subjetivos e situações protegidas pelo direito objetivo, obtida através de uma cognição sumária, quando presente o fumus boni iuris e o periculum in mora e existir pretensão a um bem ou direito material ou pessoal não há como não se admitir a intervenção de terceiro na modalidade oposição.
José Frederico Marques, em considerações gerais à Intervenção de Terceiro afirma que ela pode ocorrer no processo de conhecimento, no de execução, ou no cautelar v. 1, pag. , e reconhece como sendo pretensão da tutela cautelar, não só a de garantir outro processo, e, indiretamente, a pretensão que dele é objeto. Tanto isso é exato que o art. 798, do Código de Processo Civil, esclarece que cabe medida cautelar quando houver fundado receio de que seja causado ao direito de uma da partes…” v. 2, pag. 382-.
Autor: Antonio Luiz Bueno de Macedo
OAB/SP nº 40.355
É um instrumento voltado a policiar a ordem jurídica, que necessita extirpar do seu seio tudo aquilo que lhe contradite. A inconstitucionalidade repousa na relação de contrariedade entre a Constituição e um ato normativo imediatamente abaixo. Não é toda contrariedade com a Constituição que gera a inconstitucionalidade, ela é própria dos órgãos do Poder Político e ainda assim, quando estejam atuando regulados direta e imediatamente pelas normas constitucionais.
A Constituição provisória de 22 de junho de 1890, publicada pelo Decreto n. 510, previa em seu artigo 33 ser da competência do Congresso Nacional velar pela guarda da Constituição e das leis.
A Constituição de 1824 atribuía ao Legislativo a guarda e a interpretação das leis constitucionais, outorgando ao poder competente para fazer a lei, também o poder para interpretar a sua constitucionalidade ou inconstitucionalidade.
Com a Constituição Republicana de 1891, foi instituído o sistema de controle americano, ou seja, o controle difuso, denominados pelos processualistas como questão prejudicial ao julgamento do mérito.
Aquele sistema permitia a qualquer juiz, diante de uma caso concreto, deixar de aplicar a norma considerada inconstitucional e pela via do recurso que a declaração de inconstitucionalidade viesse a ser submetida à decisão do STF.
Com a promulgação da constituição de 1934 o sistema foi aperfeiçoado, possibilitando a suspensão da execução da lei declarada inconstitucional pelo Senado. Uma vez declarada inconstitucional pelo STF, o Senado poderia suspender-lhe a vigência, dando, dessa maneira, eficácia universal àquela decisão que, tomada isoladamente em cada caso concreto, tinha apenas efeitos restritos às partes.
Na Reforma Constitucional de 1965 o CONTROLE DA CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS ganhou total plenitude em nosso sistema, sendo deferida competência ao Supremo Tribunal Federal para julgar a representação de inconstitucionalidade de leis federais e estaduais propostas pelo Procurador-Geral da República.
A reforma manteve o sistema introduzido pela constituição de 1981, controle difuso, mas ao mesmo tempo adotou um sistema de controle direto por via principal, concentrado no Supremo Tribunal Federal para conhecer e declarar a inconstitucionalidade de leis federais e estaduais que ofendessem a norma constitucional.
A Constituição de 1988 manteve o sistema difuso, trazendo inovações ao controle direto, chamado controle concentrado. Uma das inovações é a prevista no parágrafo segundo do artigo 103 “Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias.
A inconstitucionalidade por omissão é a negativa, resultante de um comportamento que a despeito de ser exigido pela Constituição, faz-se ausente do sistema normativo. Até a constituição de 1988, só se conhecia a inconstitucionalidade por ação, ou seja pela edição de uma lei ou ato normativo.
A Constituição atual adotou a modalidade omissiva, decorrente da não atuação do poder que deveria implementar norma constitucional, como ocorre com o Poder Legislativo, quando deixa de editar normas necessárias para efetivação das disposições constitucionais.
Outra inovação da Constituição atual é a ação declaratória de constitucionalidade prevista no parágrafo 4º do artigo 103, acrescentado pela Emenda Constitucional nº 3, de 17 de março de 1993: “A ação declaratória de constitucionalidade poderá ser proposta pelo Presidente da República, pela Mesa do senado Federal, pela Mesa da Câmara dos Deputados ou pelo Procurador-Geral da República.
Ainda como inovação, no direito anterior, apenas o Procurador-Geral da República, no plano federal, e ao Procurador-Geral da Justiça, no plano estadual, era atribuída legitimidade para propor a “representação” de inconstitucionalidade, sendo que a atual Constituição não mais cuida de representação, mas sim de “ação” de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade.
Alem disso, ampliou o rol dos legitimados, estendendo ao Presidente da República, a Mesa do Senado Federal, a Mesa da Câmara dos Deputados, a Mesa de Assembléia Legislativa, o Governador do Estado, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a partido político com representação no Congresso Nacional, a Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.
Efeitos do Controle da Constitucionalidade das Leis.
Ação Direta de Inconstitucionalidade:
Com a ação de inconstitucionalidade da lei em abstrato, o objetivo é expelir do ordenamento jurídico a lei ou ato normativo desconforme com a Constituição.
Declarada a inconstitucionalidade a lei torna-se inaplicável com retirada de sua eficácia em todo o território nacional e faz coisa julgada erga omnes.
Segundo a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, a declaração de inconstitucionalidade em abstrato, por si só, retira a eficácia da norma viciada tornando-a inaplicável, não mais se exigindo a participação do Senado, contrário que se sucede no controle difuso.
“O controle abstrato da constitucionalidade da lei ou ato normativo federal ou estadual, contestado em face da CF, é feito por meio da ADIn ajuizada perante o STF pelos legitimados do art. 103 CF. A declaração de inconstitucionalidade da lei proclamada pelo SFT em ADIn faz coisa julgada erga omnes , retirando a eficácia da lei em todo o território nacional. Por esta razão, não há necessidade de remeter-se o acórdão proferido em ADIn ao Senado Federal ( RISTF 178; RTJ 97/1371);
Entre as normas que se submetem ao controle de constitucionalidade incluem-se os decretos e outros atos normativos federais ou estaduais, constestados em face do Constituição Federal.
As normas das Constituições Estaduais que conflitem com o texto da Constituição Federal também podem ser objeto de controle abstrato por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade, assim como, as emendas constitucionais, caso violem a Constituição originária. (JSTF 186/69)
Ação Direta de Incostitucionalidade Por Omissão:
A ação de inconstitucionalidade por omissão tem a finalidade de reprimir a omissão dos poderes competentes que contrariem a Constituição.
Na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em ação de inconstitucionalidade por omissão de medida para que se torne efetiva a norma constitucional, manda a Constituição que seja dada ciência ao órgão omisso para adoção das providências necessárias e , em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias.
A doutrina, em geral, não espera grandes resultados prático no instituto da inconstitucionalidade por omissão, uma vez que a Constituição não impõe qualquer sanção ao órgão que cometeu a omissão.
Ação Direta de Constitucionalidade
A Emenda Constitucional nº 3 acrescentou o parágrafo 4º ao artigo 103 e parágrafo 2º do artigo 102, viabilizando a ação direta de constitucionalidade das leis.
A decisão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade, cuja competência é deferida ao Presidente da Republica, à Mesa do Senado Federal, à Mesa da Câmara dos Deputados ou pelo Procurador-Geral da República, fará coisa julgada erga omnes, a todos obrigando, inclusive os órgãos do Poder Judiciário, com natureza de avocatória branca e efeito de verdadeira decisão normativa.
Este controle tem sido utilizado com muito cuidado e restrição pelo Poder Central devido as consequências que decorrem no caso de julgamento de improcedência desta ação.
Tem-se ainda, discutido sobre a constitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 102 que foi introduzido pela Emenda Constitucional nº 3, por ferir as disposições dos artigos 5º inciso XXXV e 60 § 4º inciso IV, ao dispor que : as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações declaratórias de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgão do Poder Judiciário e ao Poder Executivo.
“Art. 5º inciso XXXV- a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.”
“Art. 60 – parágrafo 4º – Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir – I………. II-……………; III-…………; IV os direitos e garantias individuais.
Controle de Constitucionalidade Difuso – Incidental
O controle de constitucionalidade difuso, concreto ou incidental, é exercido por qualquer órgão judicial, no curso de processo de sua competência, a qual deverá ser suscitada pelas partes interessadas ou pelo Ministério Público, podendo vir a ser conhecida ex officio pelo juiz ou tribunal.
A decisão proferida pelo juiz ou tribunal, que não é sobre o objeto principal da lide, tem a eficácia, apenas, de afastar a incidência da norma viciada pela inconstitucionalidade.
Nos tribunais, a declaração de inconstitucionalidade incidental somente poderá ser pronunciada pelo voto da maioria absoluta de seus membros:
“Art. 97 – Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a incostitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.”
Somente o Senado Federal tem competência para afastar a incidência da norma viciada com efeito erga omnes, quando for declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal é o dispõe o artigo inciso X do artigo 52 do Constituição Federal.
Como já afirmado acima, a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal é pacifica no sentido de que apenas quando a declaração de inconstitucionalidade ocorrer através do controle difuso, ou seja de forma incidental, é que se deverá recorrer ao Senado Federal.
“Art. 52- inciso X – suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada incostitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal;”
A suspensão da execução total ou parcial da norma viciada por inconstitucionalidade arguída pelo sistema difuso, somente poderá Ter efeito erga omnes, quando declarada pelo Supremo Tribunal Federal, através de ato do Senado Federal.
O atual Código de Processo Civil, disciplina a matéria do controle de constitucionalidade incidenter tantum nos artigos 480 a 482, pelo tribunais estaduais.
Argüida a inconstitucionalidade, instaura-se um incidente, ficando a causa sobrestada até que se resolva o referido incidente, devendo o Relator submete-lo a apreciação da Câmara competente para julgamento da ação principal.
Se a argüição for rejeitada, a ação retomará seu curso normal. Se a argüição for acatada, a questão deve ser remetida ao tribunal pleno, que é o órgão competente para declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo.
Instaurado o incidente de inconstitucionalidade no segundo grau de jurisdição, o Ministério Público deve ser obrigatoriamente ouvido, sob pena de nulidade.
O acórdão do pleno sobre a prejudicial de incostitucionalidade é irrecorrível, pois não causa gravame a ninguém, dado que resolve abstratamente a matéria constitucional.
Somente o acórdão proferido pelo órgão parcial (turma ou câmara) resolvendo o caso concreto, aplicando a tese firmada pelo pleno, é que eventualmente poderá caber recurso.
“Sumula 513 do STF – A decisão que enseja a interposição de recurso ordinário ou extraordinário não é a do plenário, que resolve o incidente de incostitucionalidade, mas a do órgão (Câmara, Grupos, Turmas) que completa o julgamento do feito”
Outro ponto controvertido é da necessidade da Câmara ou Turma provocar decisão do Pleno ou Órgão Especial, toda vez que se renovar em outro caso concreto a discussão sobre a constitucionalidade de lei que já teve a sua eficácia discutida a julgada no âmbito do mesmo Tribunal.
O Supremo Tribunal Federal, no RE 190.728, já se manifestou pela dispensabilidade de se encaminhar a questão ao Plenário do Tribunal, desde que aquele órgão (Supremo T. Federal) já se tenha pronunciado sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade daquela lei.
“Voto do Relator Ministro Ilmar Galvão : – Esta nova e salutar rotina que, aos poucos vai tomando corpo – de par com aquela anteriormente assinalada, fundamentada na esteira da orientação consagrada no art. 101 do RI/STF, onde está prescrito que “a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, pronunciada por maioria qualificada, aplica-se aos novos feitos submetidos às Turmas ou ao Plenário” – além de, por igual, não merecer a censura de ser afrontosa ao princípio insculpido no art. 97 da CF, está em perfeita consonância não apenas com o princípio da economia processual, mas também com o da segurança jurídica, merecendo, por isso, todo encômio, como procedimento que vem ao encontro da tão desejada racionalização orgânica da instituição judiciária brasileira.”
O Processo e o Procedimento da Ação Direta de Inconstitucionalidade e da ação Declaratória de Constitucionalidade – Lei nº 9868 de 10 de novembro de 1999 – Dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o supremo Tribunal Federal.
A ação direta de inconstitucionalidade e de constitucionalidade que tinha o seu processo e procedimento regulados pelo Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estão agora regulamentadas pela lei 9.868/99.
Além de estabelecer a legitimidade para proposição da ação, com respeito ao que dispões a Constituição Federal, estabelece os requisitos processuais da inicial, cuida da intervenção de terceiros, que não será admitida em nenhuma hipótese, trata do atos e prazos processuais dentre outros aspectos importantes.
O relator da Ação direta de Inconstitucionalidade – ADIN pedirá informações aos órgãos ou às autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado não ação.
Essas providências conferem um caráter contraditório no processo incidental, permitindo ao tribunal decidir com pleno conhecimento das questões que envolvem o incidente.
A medida cautelar na ADIN será concedida por decisão da maioria absoluta dos seus membros, após a audiência dos órgãos ou autoridades mencionados acima, que terão o prazo de cinco dias, com efeicácia contra todos e efeitos ex nunc, salvo se o tribunal entender que deva conceder-lhe eficácia retroativa.
Salvo expressa manifestação em contrário, a concessão de medida cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade, torna aplicável a legislação anterior acaso existente.
Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o STF, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos dessa declaração ou decidir que ela só terá eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.
O STF, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida cautelar na ação Declaratória de Constitucionalidade, consistente na determinação de que os juízes e os tribunais suspendam o julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo objeto da ação, até o seu julgamento definitivo.
Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação de informações e manifestação do advogado Geral de União e do Procurador Geral da República, sucessivamente submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação.
A decisão sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo somente será tomada se presentes na sessão pelo menos u Ministros, com a manifestação de ao menos 6 Ministros no mesmo sentido.
Após o trânsito em julgado da decisão o Supremo Tribunal Federal fará publicar a parte dispositiva do acórdão correspondente.
A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição Federal e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública Federal, estadual e municipal.
Em suas Disposições Gerais e Finais, a Lei em questão traz também alteração no processo de incidente de constitucionalidade quando tramitando pelos Tribunais de Segunda Instância, acrescendo ao artigo 482 do Cód de Proc Civil os seguintes parágrafos:
“§ 1º O Ministério Público e as pessoas jurídicas de direito público responsáveis pela edição do ato questionado, se assim o requererem, poderão manifestar-se no incidente de inconstitucionalidade, observados os prazos e condições fixados no Regimento Interno do Tribunal.
“§ 2º Os titulares do direito de propositura referidos no art. 103 da Constituição poderão manifestar-se, por escrito, sobre a questão constitucional objeto de apreciação pelo órgão especial ou pelo Pleno do Tribunal, no prazo fixado em Regimento, sendo-lhes assegurado o direito de apresentar memoriais ou de pedir a juntada de documentos.
- 3º O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá admitir, por despacho irrecorrível, a manifestação de outros órgãos ou entidades.”
O projeto original da lei em questão recebeu um veto parcial, especificamente ao Parágrafo único do artigo 2º, referente à legitimidade das entidades sindicais, que dispunha:
” Parágrafo único – As entidades referidas no inciso IX, inclusive as federações sindicais de âmbito nacional, deverão demonstrar que a pretensão por elas deduzidas tem pertinência direta com os seus objetivos institucionais.”
Razões do Veto.
“Duas razões básicas justificam o veto ao parágrafo único do art. 2º, ambas decorrentes da jurisprudência do Supremo Tribunal em relação ao inciso IX do art. 103 da Constituição. Em primeiro lugar, ao incluir as federações sindicais entre os legitimados para a propositura da ação direta, o dispositivo contraria frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da ilegitimidade daquelas entidades para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade (cf entre outros, ADIn-MC 689, Rel. Min. Néri da Silveira; ADIN-MC 772, Rel. Min. Moreira Alves; ADIn-MC 1003, Rel. Min. Celso de Mello).
Autor: Antonio Luiz Bueno de Macedo
OAB/SP nº 40.355
Introdução:
O Direito Processual mantinha tradicionalmente os interesses divididos em duas categorias: Interesse Público e Interesse Privado. Interesse Público do qual o Estado é o titular e Interesse Privado do qual o titular é o Cidadão.
Essa distinção, confere legitimidade “ad causam” para as ações privadas, aos titulares de interesses privados, por si ou mandatários e legitimidade “ad causam” para as ações públicas, às entidades estatais de administração direta ou indireta ou ao Ministério Público. Legitimação ordinária.
O mundo moderno entretanto cria e provoca a multiplicação dos interesses, clamando por decisões judiciais abrangentes de interesses coletivos unidos pela homogeneidade, com menor número de processos, enquanto essa tradicional divisão de interesses afasta da justiça essas pretensões.
Houve uma forte restrição para decisões do Poder Judiciário que estabelecessem somente normas gerais de direito em tese e com efeitos “erga omnes”, até a Constituição de 1988.
Como exceção à regra, a Justiça do Trabalho experimentou os chamados prejulgados do TST, que sujeitavam obrigatoriamente todas as instâncias trabalhistas, valendo como direito em tese, até ser declarado inconstitucional. O poder normativo da Justiça do Trabalho veio com a Constituição de 1937, sendo revogada pela Carta de 1946.
“1.Os antigos prejulgados do TST obrigariam às Juntas de Conciliação e Julgamento e aos Juizes de Direito. O dispositivo estava revogado tacitamente pela Constituição de 1946. O TST levara 17 anos (1963) para emitir o primeiro prejulgado. O instituto trabalhista em nada se assemelhava ao prejulgado do processo comum; este é proferido para o caso concreto (CPC, art. 476, tendo perdido aquela denominação). O prejulgado trabalhista, como o texto supra pretendia e vigorou, não obrigava os tribunais inferiores, nem os juizes, que só devem obedecer à lei e a sua própria consciência. Não obstante sua utilidade em alguns casos, descabia-lhe superar a autoridade de simples súmula, pois usurpava a função específica do Poder Legislativo……………Por seu turno o Supremo Tribunal Federal demorou mais 14 anos para declarar revogado pela Constituição Federal o art. 902 da CLT.”
Com a Emenda Constitucional n.1/69, art. 142, § 1º , A Justiça do Trabalho dispunha também das decisões em Dissídios Coletivos. “A lei especificará as hipóteses em que as decisões, nos dissídios coletivos, poderão estabelecer normas e condições de trabalho”.
Até o advindo da Constituição Federal de 1988, podemos afirmar com grande margem de segurança que, com exceção da Justiça do Trabalho, não dispúnhamos do instrumento de ação para defesa de interesses Coletivos.
A Ação Popular – Lei nº 4.717/65, Ação Civil Pública – Lei nº 7.347/85, Ação Direta de Inconstitucionalidade, sofriam fortes restrições, limitando-as à defesa apenas de interesse Público, do qual é titular o Estado.
O ante projeto e projeto da Lei 7.347/85 – Lei da Ação Civil Pública , incluía entre os seus objetos , a defesa de qualquer interesse difuso ou coletivo, o que foi vetado quando de sua Promulgação, assim como, era restrita a sua legitimidade.
“De outro lado, dentro dessa ampla gama de problemas, um dos mais importantes é o da legitimação para agir. Aliás, para Kazuo Watanabe, “o problema fundamental da tutela jurisdicional dos interesses difusos está na legitimação para agir.””
A Constituição Federal de 1988, apresentou enormes modificações na tutelas dos interesses, dispondo que: – art. 8º..III- ao sindicato cabe a defesa dos interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas; – art. 5º ..LXXIII- qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência; art. 103- Podem propor ação de inconstitucionalidade I-O presidente da República, a Mesa do Senado Federal, a Mesa da Câmara dos Deputados, a Mesa de Assembléia Legislativa, O Governador de Estado, O procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional; art. 129 III- promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; art. 5º ..LXX-o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: a) partido político com representação no Congresso Nacional; b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados; art. 5º XXXII O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor; art. 48 do ADCT – O Congresso…..elaborará o Código de Defesa do Consumidor; art. 5º…XXI – as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente.
Com essas disposições, a CF de 1988 não só recepcionou as legislações antes vigentes, como ampliou a legitimidade e também o objeto, principalmente das ações civis públicas, que tiveram restaurado parte do veto sofrido pelo projeto, incluindo – outros interesses difusos e coletivos. A partir destas alterações, para a defesa dos interesses coletivos e difusos privados passam efetivamente a existir as Ações Coletivas de Interesses Privados e não só as ações de direitos coletivos de interesses públicos.
Difusos são, pois, interesses de grupos menos determinados de pessoas, entre as quais inexiste vínculo jurídico ou fático muito preciso. São como um feixe de interesses individuais, com pontos em comum.
Iinteresses coletivos compreendem uma categoria determinada, ou pelo menos determinável, de pessoas.-… e, em sentido lato, os interesses coletivos compreendem tanto grupos de pessoas unidas pela mesma relação jurídica básica, como grupos unidos por uma relação fática comum.”
Promulgada a Constituição de 1988 começam a surgir na legislação ordinária normas regulamentando a defesa coletiva de interesses individuais, como a LEI nº 7.853 de 24.10.89 que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, a Lei nº 7913 de 07.12.89 sobre ação civil pública de responsabilidade por danos causados aos investidores no mercado de valores mobiliários e finalmente a Lei nº 8.078 de 11.09.90 sobre a proteção do consumidor.
Código de Defesa do Consumidor:
Com o Código de Defesa do Consumidor é que se passou a existir realmente as Ações Coletivas para a defesa de interesses individuais múltiplos acrescendo á Lei de Ação Civil Pública o Art. 21 que dispõe: – Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível , os dispositivos do Título III da Lei 8.078 de 11.09.1990, que instituiu o Código de Defesa do Consumidor.
Acresceu aos essencialmente coletivos, os interesses individuais homogêneos, assim entendidos aqueles decorrentes de origem comum – integrantes determinados ou determináveis de um grupo de pessoas, com prejuízos divisíveis oriundos das mesmas circunstâncias de fato.
As Associações e Representação de Filiados
C.Federal – art. 5º As entidade as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente.
A Constituição Federal permitiu a organização de grupos não sindicais com os mais variados objetivos, art. 5º inciso XVII, com legitimidade de representação judicial de seus filiados.
Esse avanço processual em que se permite uma pessoa agir por outra rompe com a tradição expressa no artigo 6º do Código de Processo Civil “Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei” deixando entretanto um ponto de indefinição.
Segundo o dispositivo constitucional essa legitimidade ou representatividade depende de autorização expressa, não bastando a mera existência da associação.
Não tendo a CF definido a quem compete autorizar expressamente a associação, se o próprio filiado, se a lei ou se o instrumento de constituição, essa indefinição vem provocando posições doutrinárias e jurisprudênciais contraditórias quanto à natureza dessa legitimação, se ordinária, extraordinária ou simples representação, por mandatário
O Constitucionalista Celso Ribeiro Bastos, já no ano seguinte à promulgação da Constituição entendia que a matéria necessitaria ser regulamentada por legislação específica : “Avança neste sentido, conferindo legitimidade para defesa de outros interesses. Aqui, entretanto, pelo seu caráter extremamente sintético, deixa um verdadeiro vazio semântico a ser necessariamente preenchido por uma legislação específica.”
Sem se ater à exigência da autorização expressa, o processualista Rodolfo de Camargo Mancuso defende a legitimação ordinária nas ações coletivas, quando exercitadas por uma associação ” que assim se coloca como uma longa manus da coletividade interessada. – Assim é, porque, afinal, ao ingressar em juízo estará defendendo um interesse próprio, pois os interesses de seus associados e de outras pessoas eventualmente atingidas, são também seus, uma vez que ela se propôs a defendê-los, como sua própria razão de ser.”
Para o Jurista Wilson de Souza Campos Batalha, a representação por entidades associativas não sindicais é representação inconfundível com a substituição processual. Ela pode ser exercida apenas em relação aos associados que tenham outorgado procuração para a representação.
Já a legitimação extraordinária é defendida por Hugo Nigro Mazzilli : “Na época que antecedeu o advento da legislação sobre a ação civil pública (Lei n. 7347/85), tentou-se, por meio de construção doutrinária e jurisprudencial , alargar as hipóteses de legitimação extraordinária. Sustentou-se que sindicatos e associações civis poderiam defender em juízo interesses da respectiva coletividade que as constituía (o que hoje acabou sendo reconhecido na Constituição de 1988, cf. Arts. 5º, XXI e 8º,III).
Na Jurisprudência também encontramos a mesma divergência existente na doutrina conforme se vê das ementas a seguir:
“EMENTA; Processual Civil. Mandado de segurança coletivo. Requisitos. Art. 5º, XXI da CF. – Carece de legitimidade para representar seus filiados juridicamente, a associação que não tem autorização ou mandato outorgado por aqueles. Precedentes.” (STJ. ROMS 1360/MG Rel. Min.Américo Luz. 2ª Turma. Decisão. 26/10/94. DJ 1 de 12/12/94, p.34.335)
“EMENTA Processual Civil…….Ilegitimidade de parte……I. O art. 5º, XXI, da Constituição Federal, só permite a representação de filiados judicial ou extrajudicialmente, quando as entidades associativas estão expressamente autorizadas.(TRF – 2ª Região. AC 93.02.08864-2/RJ 1ª T. Decisão 1/09/93. DJ de 05/10/93, p. 41.584)
“EMENTA. Processual Civil. Legitimação processual ativa e passiva. I- A teor do art. 5º, XXI, da Constituição Federal, somente as entidades associativas expressamente autorizadas pela lei e pelos estatutos podem ajuizar ações coletivas no interesse de seus associados. II-Tratando-se de ação proposta em favor de servidores de entidades personalizadas, esta é que devem figurar no pólo passivo da relação processual.”(TRF – 2ª Região. AC 95.02.04202/RJ. 1ª Turma. Decisão: 30/08/95. DJ de 10/10/95, p. 68.553)
“LEGITIMIDADE DO SINDICATO – 1. Tem o Sindicato direito de representação, quando devidamente autorizado (art. 5º, XXI, da CF) podendo ainda agir como substituto processual dos seus filiados (art. 8º, III, da Carta Politica) (TRF 1ª Região – AI 92.01.28095-5-DF 4ª T j.30.11.92 vu. – Revista de Processo – RT nº 70, pág. 294)
Entretanto esta indefinição da legitimação já não ocorre com a defesa dos interesses protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor que procurou sanar essa dúvida provocada pelo texto da Constituição Federal.
Para tanto exige alem da constituição legal das associações que estas constem expressamente de seus estatutos os fins específicos de defesa dos interesses e direitos protegidos pelo código. (Art. 82 inciso IV)
“A razão de ser dessa disposição está na dúvida suscitada pela regra contida no inc. XXI do art. 5º da Constituição Federal,………..-.Para os fins de defesa dos interesses ou direitos dos consumidores, a autorização está ínsita na própria razão de ser das associações, enunciada nos respectivos atos constitutivos. Vale dizer estão elas permanentemente autorizadas, desde a sua constituição, a agir em juízo desde que seja esse seu fim institucional.
Esse posicionamento da doutrina e da jurisprudência nos leva à conclusão que a legitimação das Associações na defesa de seus filiados poderá ser Ordinárias, Extraordinária ou simples Representação Processual, de acordo com a natureza do interesse em questão.
Em artigo publicado na Revista de Processo, Teori Albino Zavascki defende a duplicidade de legitimação para a defesa judicial dos interesses individuais homogêneos: “O carater excepcional da substituição processual resulta claramente evidenciado no art. 5º, XXI, da CF que, ao atribuir às entidades associativas em geral legitimidade para atuar em juízo em defesa de seus filiados, condicionou tal atuação ä autorização específica do associado, submetendo-a, assim, a regime de representação. Desse dispositivo resulta confirmada a regra segundo a qual a defesa judicial de direitos individuais depende sempre de autorização ou do titular do direito, ou da expressa disposição da lei. Mais do que um preceito, é um princípio: em se tratando de direitos individuais, ainda que homogêneos ou relacionados com interesses associativos, o regime de representação é a regra, e o da substituição processual é a exceção e como tal deve ser interpretado.
A conclusão que se extrai desses posicionamentos doutrinários e da atual posição adotada nos julgados é que a legitimação das associações civis será:
ORDINÁRIA quando na defesa de interesses difusos ou coletivos como os relacionados nos incisos I e II do artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública, devendo para tanto estar constituída há pelo menos um ano, nos termos da lei civil; e que inclua entre suas finalidades institucionais a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, ou ao patrimônio público, artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Esta condição se amolda ao entendimento defendido por Rodolfo de Camargo Mancuso “uma vez que ela se propôs a defendê-los, como sua própria razão de ser”.
EXTRAORDINÁRIA quando na defesa de interesses coletivos e individuais homogêneos expressamente autorizada por lei – substituição processual – como ocorre com a defesa do consumidor – Lei 8.078/90, art. 82 – são legitimados concorrente: IV as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código, dispensada a autorização assemblear – Lei 7.853/89, art. 3º – As ações civis públicas destinadas ä proteção de interesses coletivos ou difusos das pessoas portadoras de deficiência. – Lei 7913/89, art 3 º. A ação de que trata esta lei aplica-se, no que couber, o disposto na Lei n. 7347;
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL (MANDATARIO) quando na defesa de interesses individuais homogêneos de seus filiados não regulamentados por lei, desde que expressamente autorizada pelos titulares do direito.
Tutela Coletiva – A realidade é que a Constituição de 1988 abriu a possibilidade de se ampliar as decisões do Poder Judiciário que estabeleçam normas gerais de direito em tese e com efeitos “erga omnes”, restando a regulamentação.
A competência será a do foro do local onde ocorrer o dano, e em caso do dano se verificar em mais de uma comarca, é competente qualquer uma delas, resolvendo-se a questão pela prevenção.(LACP art.2º)
“Já da leitura desse dispositivo se percebe que o legislador atrelou dois critérios fixadores de competência que, ordinariamente, aparecem separados, porque um – o local do fato – conduz à chamada competência “relativa” prorrogável, porque estabelecida em função do interesse das partes ou da facilidade para a colheita da prova; outro – competência funcional – leva à chamada competência “absoluta”, improrrogável e inderrogável, porque firmada em razões de ordem pública, de interesse do processo.”
O Ministério Público, quando não for parte no processo, atuará como fiscal da lei obrigatoriamente, sendo facultado aos demais legitimados habilitarem-se como litisconsortes de qualquer das partes.
Em caso de abandono ou desistência do autor, o Ministério Público ou outro legitimado poderá assumir a titularidade da ação.
A legitimação das associações representa um avanço na distribuição da justiça, aproximando a sociedade do poder jurisdicional com o objetivo de atender mais tutelados com menos processo.
Para tanto as associações, em casos de manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido, poderá ser dispensado do requisito de pré-constituição, CDC.
Dispõe a lei que não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, saldo comprovada má-fé , em honorários de advogado, custas e despesas processuais, adotando sistema semelhante ao da Ação Popular.
“Parece haver consenso doutrinário na tese de que os interesses difuso, por definição, não devem ter sua tutela restringida à atuação de certos órgãos governamentais nem somente ao Ministério Público, havendo mesmo quem minimize a importância da existência “jurídica” das associações, de sorte a admitir também legitimação a sociedade de fato; comitês de defesa. Sobre o tema, já escrevemos: ” A solução ” intermédia” exsurge, naturalmente como a mais indicada na espécie. Os interesses difusos, pelo fato mesmo de sua natureza, pedem uma legitimação difusa, a ser reconhecida, em sede “disjuntiva e concorrente” aos cidadãos ” per se” ou agrupados em associações, e, bem assim, aos entes e órgãos públicos interessados, “ratione materiae”, aí incluído o Ministério Público.”
Entretanto, quanto aos honorários periciais, em recente decisão, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por sua C. 7ª Câmara. de Direito Público, em Agr.de Inst. nº 7.492.5/3 – Franca; Rel. Des. Sérgio Pitombo; j. 05.08.96, v.u. – AASP nº 1974 – pag. 341, decidiu não ser possível exigir do demandado o ônus processual, e nem que o perito aguarde a remuneração e reembolso das despesas do sucumbente, mesmo sendo autor da Ação o Ministério Público, determinado que o feito aguardasse no arquivo o depósito e na eventual inércia, a extinção do processo, sem julgamento do mérito.
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Adiantamento de honorários e despesas com a perícia. Impossibilidade de forçar o demandado a suportar o ônus processual, cabente ao autor. Ausência de norma que leve o perito a aguardar remuneração e reembolso de despesas do sucumbente. Recurso improvido.”
A legitimação passiva abrange todos os que forem responsáveis pelas situações provocadoras de danos e infração às normas de direito material de proteção ao meio ambiente, ao consumidor, ao bem público, etc., sejam pessoas físicas ou jurídicas, inclusive as estatais, autarquias e paraestatais.
Natureza da Ação Civil Pública.
A ação civil pública tem natureza de ação de conhecimento do tipo condenatório, pagamento em dinheiro ou ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, seguindo o procedimento comum do artigo 292 ou 275 do CPC, como as ações de responsabilidades pelos danos causados.
Nas ações de obrigação de fazer ou não fazer, a condenação será de cumprimento ou de cessação de atividade, sob pena de execução específica ou sob a cominação de multa diária, independente de requerimento do autor.
Quanto às ações declaratórias o entendimento é de que não teriam utilidade prática para os objetivos da ação civil pública.
“Em que pese esse elastério no emprego da declaratória, cremos ser remota ou mesmo inviável sua utilização em matéria de defesa de interesses difusos: primeiro, a Lei 7.347/85 não contemplou a tutela pela ação civil pública do interesse à mera declaração jurisdicional acerca de um dado interesse difuso, senão uma tutela francamente condenatória ou ao menos cautelar; segundo, seria questionável a utilidade que um provimento só declaratório teria na espécie: no art. 11 dessa lei está dito que a sentença determinará ao réu o cumprimento em espécie da obrigação positiva ou negativa, ou lhe cominará multa diária: não parece sobrar espaço, portanto, para um mero reconhecimento de que o fato ocorreu ou de que a lesão se verificou, ou que o autor tem direito a obter, em ação própria, a devida reparação.”
Cautelar – Admite a propositura de ação cautelar visando evitar o dano, cujos requisitos são os mesmos previstos pelo CPC, periculum in mora e fumus boni juris, art. 4º. Nas obrigações de fazer ou não fazer é admitida a tutela liminar com ou sem justificação prévia, art. 12.
Reparação da Dano
Nos casos de direitos difusos ou coletivos, se a codenação de indenização pelo dano causado for em dinheiro, este será revertido para um fundo gerido por um Conselho Federal ou Estadual.(art. 11)
Mediante autorização legislativa, prevê a CF art. 167 IX , que os Estados podem criar e regulamentar os fundos de trata a presente norma, sendo no Estado de São Paulo criado o Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados, através da lei estadual nº 6.536/89.
Diversamente da condenação nas ações de direitos coletivos e difusos, revertida para um Fundo Nacional ou Estadual criado por lei, conforme dispõe a Lei 7.347/85, nas ações coletivas de direitos individuais homogêneos, a condenação da ré será revertida diretamente aos lesados.
Trata-se de ação condenatória de ressarcimento ou mandamental quando preventiva, para proibir a prática de atos como operações fraudulentas de manipulação de preços, criação de condições artificiais, omissão de informações relevantes e indispensáveis ao funcionamento regular e seguro do mercado.
Sentença:
A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, exceto se a ação for julgada improcedente por deficiência de provas, hipótese que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. (art. 16)
“O efeito erga omnes da coisa julgada decorrente de sentença proferida na ACP, inibe a repropositura da mesma ação civil pelo autor ou por qualquer outro co-legitimado ao ajuizamento das ações coletivas, deixando a salvo apenas os particulares em suas relações intersubjetivas (Grinover, CDC Coment. 592). É bom frisar que os efeitos erga omnes da coisa julgada somente ocorrerão se procedente o pedido ou improcedente por ter sido considerada infundada a pretensão. Se a improcedência se der por falta ou insuficiência de provas, não se forma a autoridade da coisa julgada sobre a sentença proferida na ACP.”
“Com a incidência do CDC 103 § 3º às ações fundadas na LACP, vê-se que a coisa julgada proferida em ACP, se procedente o pedido, beneficiará todos os titulares de direito individual, que não fizeram parte do processo da ACP. Essa extensão dos limites subjetivos da coisa julgada faz com que eles possam valer-se da condenação genérica oriunda da ação coletiva para pleitear a satisfação ou reparação de seu direito individual. Reconhecido em ACP, por exemplo, dano provocado ao meio ambiente e a terceiro por atividade poluidora, o particular ou seu sucessor que se sentir lesado pelos fatos reconhecidos na sentença de procedência da ACP poderá dela se servir para pleitear a liquidação dos danos por ele sofridos e, posteriormente, a execução, sem que haja necessidade de mover ação de conhecimento para tanto.
O sistema recursal na Ação Civil Pública é o mesmo do Código de Processo Civil, com a peculiaridade, da possibilidade de o Juiz do processo conferir efeito suspensivo aos recursos que a lei defere apenas o efeito devolutivo, quando para evitar dano irreparável à parte. art. 14 da Lei 7.347/85.
Transação:-
Ponto importante das Ação Civil Pública, é sobre a possibilidade das partes transigirem sobre os interesses litigados. Os Autores que demandam em nome próprio, defendem interesses alheios, que por sua vez, são indisponíveis.
A transação conduz à extinção do feito com apreciação do mérito, produzindo os efeitos da coisa julgada e o autor não tem poderes para transigir sobre os interesses da coletividade.
Situações há entretanto, que a não transação, será prejudicial aos interesses difusos pretendidos, como quando o réu se propõe a recuperação programada do meio ambiente ou do patrimônio público.
MEDIDA PROVISÓRIA nº 1.798-2 de 12.03.99
Art. 5º A Lei nº 9.494 de 10 de setembro de 1997, que disciplina a aplicação da Tutela Antecipada contra a Fazenda Pública, já alterava a redação do artigo 16 da lei 7347, restringindo o efeito “erga omnes” aos limites da competência territorial do órgão prolator.
A Medida Provisória veio a expandir a limitação do efeito “erga omnes”, especificamente às ações promovidas por entidades associativas, acrescentando o artigo 2º e o § único.
Art. 2ºA- A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade associativa que tenham, na data da propositura da ação domicilio no âmbito da competência territorial do órgão prolator.
Par. Único:- Nas ações coletivas propostas contra entidades da administração direta, autárquica e fundacional da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a petição inicial deverá obrigatoriamente estar instruída com a ata da assembléia da entidade associativa que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos seus associados e indicação dos respectivos endereços.
Autor: Antonio Luiz Bueno de Macedo
OAB/SP nº 40.355
Duplo Grau de Jurisdição é postulado constitucional, consectário do devido processo legal (Nery, Recursos, 39; Grinover, Princ. 143; Frederico Marques, Instit., IV, 1000, 210), e consiste na possibilidade de impugnar-se a decisão judicial, que seria reexaminada pelo mesmo ou outro órgão de jurisdição. Não é ilimitado, podendo a lei restringir o cabimento de recursos e suas hipóteses de incidência.
O sistema recursal em duplo grau de jurisdição tem origem na Constituição Francesa, quando a generalidade de recursos chegou a debates sobre a sua supressão, tendo como regra o conhecimento e decisão das causas por dois órgãos de jurisdição, sendo o segundo hierarquicamente superior ao primeiro.
Assim, o duplo grau de jurisdição, também adotado em nosso regime jurídico, teve a sua instituição inspirada na valorização das decisões judiciais, oferecendo o reexame por órgão de grau superior, com maior experiência e habilitados para correção das injustiças ou ilegalidades não sanadas pela primeira decisão.
Alem dessa justificativa, os defensores do instituto abraçam a idéia de que a existência do reexame da decisão por órgão hierarquicamente superior acabam despertando nos juizes de primeira instância um maior cuidado na elaboração da sentença buscando o aprimoramento de seus conhecimentos técnicos para o progresso na carreira.
Vicente Greco Filho ampara-se nesta posição, citando a lição de Chiovenda, “basta que o juiz saiba que a sua sentença pode ser reexaminada e modificada por um tribunal superior para que ela seja mais cuidadosa e mais justa.”
É sua opinião, que o primeiro mais próximo ao fato pode apreciar inclusive os pormenores como a sinceridade de uma testemunha ao depor, e o segundo alem de ter uma visão mais adequada do contexto dos acontecimentos análogos, aperfeiçoa a interpretação do direito.
No mesmo sentido ditava a doutrina na vigência do Código de 1939 representada por José Frederico Marques , “Não há dúvida de que o sistema do duplo grau de jurisdição é um fator de maior segurança na aplicação da lei pelos órgãos judiciários. Foi o que bem salientou Seabra Fagundes, mostrando que por ele se reapura a jurisdicidade da decisão recorrida. Ao demais, na organização dos quadros judiciários, os magistrados que funcionam no Juízo do recurso são mais experimentados e se encontram em melhores condições para um exame bem refletido e sereno da questão decidida em primeiro grau.”
O princípio do duplo grau de jurisdição constou expressamente da Constituição brasileira do Império no artigo 158, o que atualmente não acontece, sendo entretanto consagrado pelo atual Código de Processo Civil, como também ocorria com o código de 39.
Decorre entretanto, do devido processo legal, art. 5º inciso LIV e do direito ao recurso, art. 5º inciso LV, ou seja, o direito de provocar o reexame da decisão apontando e demonstrando o erro, o vicio e a irregularidade, buscando a sua modificação.
A garantia constitucional é o da revisão, reexame da decisão, podendo este reexame ser praticado pelo mesmo juiz ou órgão judicial ou por órgão hierarquicamente superior.
Recurso, na definição de Moacyr Amaral Santos, “é, pois, o poder de provocar o reexame de uma decisão, pela mesma autoridade judiciária, ou por outra hierarquicamente superior, visando a obter a sua reforma ou modificação.”
A regra geral é da aplicação do duplo grau de jurisdição, não havendo entretanto impedimento legal que o recurso seja apreciado pela mesma autoridade prolatora da decisão recorrida.
Essa pratica tem sido adotada com cautela, em respeito aos adjetivos antes discorridos em defesa dos benefícios e importância para a segurança na distribuição da justiça que representa o princípio do duplo grau de jurisdição.
Assim aconteceu na vigência do Código de Processo Civil de 39 com as chamadas “Causas de Alçada”, causas de pequeno valor em que só se admitia os recursos de embargos de nulidade ou infringentes do julgado e embargos de declaração, que eram dirigidos e julgados pela mesma autoridade prolatora de sentença.
Essa pratica recebeu as criticas dos ilustres juristas como José Frederico Marque “Não nos parece louvável tal norma, visto que dá ao juiz de primeira instância um arbítrio desmensurado e incontrolável, o que, em nosso sistema de juízos monocráticos ou magistrado único, nada tem de aconselhável………” “como bem pondera Seabra Fagundes, que a seguir faz a seguinte crítica: “Ressalta evidente a injustiça social de deixar demandas que envolvem, às vezes, tão vitais interesses e que, em muitos casos, afetam o próprio sentido constitucional da propriedade, entregues ao exame definitivo de um só juiz, nem sempre vitalício”.
Com o atual Código de Processo Civil essa pratica foi afastada, adotando-se para toda e qualquer causa o duplo grau de jurisdição.
Entretanto, com a edição da lei 6830 de setembro de 1980, Lei de Execução Fiscal, restabeleceu-se as “causas de alçada” regulamentando os Recursos para as sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 ORTN, quando só são admitidos embargos infringentes e de declaração.
Os embargos interpostos, serão dirigidos e julgados pelo mesmo juiz prolator da sentença, art. 34 § 3º-.
Esse retorno da revisão das sentenças pela mesma autoridade prolatora não passou desapercebido pela crítica, como registra Milton Flaks “Reflete a LEF uma perigosa tendência do legislador no sentido de diminuir as garantias de uma justa prestação jurisdicional como solução para a crise do Poder Judiciário”.
Na mesma data foi sancionada a Lei nº 6.825 de 22.09.80 restabelecendo, também nos processos de competência da Justiça Federal, as causas de alçada.
Mais recentemente, agora já atendendo comando expresso da C.Federal atual, artigo 98,I, foram criados os Juizados Especiais através da lei nº 9.099/95 para as causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo.
Com as disposições do texto do artigo 98, inciso I, da Constituição Federal, a admissibilidade de procedimentos sem recursos para instância superior antes só acatado pela legislação ordinária, passa agora à condição de norma constitucional.
“Art. 98 – I – ……..mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau;”
Importante ressaltar, que a disposição constitucional inovou o sistema de recursos até então adotados, sempre limitados a embargos dirigidos ao mesmo juiz que decidiu a causa, o que gerava os questionamentos sobre a constitucionalidade das “causas de alçada”.
Alem de garantir o recurso ordinário, a revisão da sentença prevista na Constituição não ficará a critério unicamente da autoridade prolatora, mas a uma turma de juizes.
Não submetida a decisão a órgão hierarquicamente superior é entretando revista por um colegiado, o que sem dúvida espanca os argumentos de maior relevância da critica, sempre disparada contra esse sistema recursal pelo arbítrio desmensurado e incontrolável, outorgado ao juiz de primeira instância, alem de também ter o mesmo efeito benéfico de despertar nos juizes aquele maior cuidado na elaboração da sentença, buscando o aprimoramento de seus conhecimentos técnicos, sabedor que ela será revista por seus pares.
Autor: Antonio Luiz Bueno de Macedo
OAB/SP nº 40.355
“Interdictum”
“Além do procedimento per formulam e da extraordinária cognitio (extraordinário no sentido geral, na significação mais lata de procedimento que não era ordinário), sistemas de proteção jurídica pelos quais o cidadão podia recorrer à tutela de uma determinada situação de fato, existiu, para um certo grupo de reclamações no direito clássico e chegou a ser aplicado quase exclusivamente em matéria possessória, um terceiro procedimento chamado per interdictum, procedimento interdital. ”
Enciclopédia Saraiva do Direito, Editora Saraiva, vol. 45, pág. 277
“Interdictum Prohitorium”
“Instituto do Direito Romano, era a proibição emanada de um magistrado romano e que obstava a realização de um ato ou a concretização de certos acontecimentos, mantendo-se uma situação presente, até melhor exame do assunto”.
Enciclopédia Saraiva do Direito, Editora Saraiva, vol. 45, pág. 285.
Tutela Interditória:
A evolução das relações sociais, econômicas e jurídicas da sociedade moderna opera-se de forma acelerada pela comunicação instantânea proporcionada pela informática e pelos meios de comunicação eletrônica.
Da mesma forma os direitos de terceiros são agredidos ou ameaçados com a mesma agilidade, exigindo na esfera do Direito Processual mecanismos de proteção com eficácia e segurança a esses direitos.
A Contituição Federal em seu artigo 5º inciso XXXV garante não só o direito à Tutela Jurisdicional contra o dano sofrido como também a Tutela Jurisdicional protetora à ameaça de agressão a direito.
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.”
Tutela protetora da ameaça de direito só é eficaz quando concedida sem o conhecimento da parte contrária ou através de procedimentos sumaríssimos, criando tipos diferenciados de processos adequados às situações que exijam urgência na sua aplicação.
Entretanto esta forma está limitada aos princípios que compõem a cláusula do “devido processo legal”, que segundo Kazuo Watanabe se realiza através de “um processo com procedimento adequado ao exame contraditório do litígio e não qualquer processo”.
O Direito Processual Civil vem vivendo reformulações em seu procedimento comum, ordinário e sumário, visando atender a expansão dos conflitos sociais que estão se multiplicando com a mesma velocidade das evoluções sociais, obstando a efetividade na aplicação da Tutela Jurisdicional.
Aos interditos possessórios, nunciação de obras novas, ao mandado de segurança, locações, vieram agregar-se a tutela antecipatória no processo de conhecimento, a ação de execução nas obrigações de fazer e não fazer com antecipação da tutela inclusive “inaldita altera pars”, o alargamento no rol das execuções extra-judicial, buscando dotar a tutela jurisdicional de eficácia e efetividade.
Entretanto, a redução das formalidades do direito processual, limitada que está pelos princípios que compõem o “devido processo legal” e a lentidão na organização do poder judiciário, não atenderão as urgências que determinadas pretensões, pela sua natureza ou iminência de dano irreparável, estão a exigir.
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, defende a tese de que o processo civil caminha para “a quebra do sistema tradicional arraigado ao caráter apenas declarativo do processo de conhecimento e, portanto, de completa autonomia do processo de execução foi se delineando e se acentuando na medida em que o legislador se viu compelido a criar sucessivas ações de acertamento com a presença de medidas liminares de caráter satisfativo, no todo ou em parte, do direito material em jogo”.
O Anteprojeto n.13 da Comissão de Processualistas presidida pelo Ministro Sávio de Figueiredo prevê a unificação dos processos de conhecimento e execução, permitido ao juiz dizer qual é o direito, de quem é o direito e aplicar o direito através de um processo uno.
Aquilo que se aplica ao procedimento dos interditos possessórios, será generalizado a todos os processos condenatórios, representando inegável benefício ao demandante e indiscutível valorização da tutela jurisdicional.
Estará assim, eliminada a necessidade do demandante de voltar a percorrer um novo procedimento, com novo processo para ver satisfeito o seu direito, depois de já ter se submetido a um processo de conhecimento onde teve o seu direito declarado.
A dicotomia da prestação jurisdicional compreendida no processo de conhecimento e processo de execução judicial, herança do Direito Romano cuja jurisdição era exercida pelo árbitro e pelo pretor (quando o árbitro tinha a missão só de solucionar o conflito jurídico, ficando os atos executivos a serem praticados pelo pretor, quem detinha o poder de impérium, quem podei ordenar. A cognição ficava a cargo do árbitro e a execução a cargo do pretor) que não tem mais qual razão para existir, estará totalmente substituída por um único processo e procedimento.
A relação processual se iniciará com a propositura da ação e somente se encerrará com a satisfação da pretensão, evitando que uma ameaça ao direito se converta em dano efetivo devido à utilização do poder judiciário.
O direito fundamental da efetividade da jurisdição não pode ser desprestigiado em nome da segurança jurídica representada pelo “devido processo legal”. Sem a efetividade da jurisdição não haverá o “devido processo legal” porque não haverá, ainda que processo legal exista, o “justo” processo legal.
Autor: Antonio Luiz Bueno de Macedo
OAB/SP nº 40.355
O Código de Processo Civil de 1939, instituiu em seu artigo 675, dentre as funções preventivas nominadas, uma função complementar, admitindo outras providências cautelares inominadas, o que a doutrina denominou de PODER CAUTELAR GERAL DO JUIZ.
O Código de Processo Civil de 1973, no artigo 798, manteve esse poder cautelar geral do juiz, “atribuição considerada como a mais importante e delicada de quantas confiadas à magistratura.” (Com..ao CPC- Galeno Lacerda – forense – tomo I – vol. VIII).
Dentre as medidas abrangidas pela aplicação desse poder cautelar, de alcance quase ilimitado, a mais utilizada sem dúvida é a de sustação de protesto cambiário.
Disseminado pelas constantes crises econômicas que norteiam a Economia do Pais, a utilização deste importante instrumento de regulamentação da circulação cambiária, indispensável para a comprovação da insolvência e do inadimplemento, vem sendo utilizado com muita ênfase na cobrança impositiva de créditos, inclusive como instrumento controlador do crédito.
Essa última finalidade ganha nos dias atuais importância na constituição e ampliação de sociedades protetoras do crédito, sobrepondo-se àquelas finalidades jurídicas do protesto, com influência prejudicial à vida do cidadão comum e principalmente do comerciante.
O PROTESTO CAMBIÁRIO
É o ato formal, não obrigatório, por meio do qual se declara, para conhecimento de todos, que o titulo (letra de cambio, nota promissória, cheque e duplicata) não foi aceito e ou não foi pago no vencimento, para o fim de resguardar os direitos contra todos os obrigados e coobrigados. Não cria direitos, apenas os conserva, sendo um meio especial de prova.
“Pedro Vieira Mota, que tem uma monografia preciosa sobre a sustação do protesto cambial, assim deixou exarado: ” A noção clássica do protesto cambial, como simples registro da recusa de aceite ou pagamento, que era correta, tornou-se há muito, incompleta. O instituto além daquela finalidade primitiva e fundamental, adquiriu entre nós uma função nova mais importante, mercê de nossa realidade sócio-econômica e de seus reflexos no campo jurídico. Converteu-se, de fato, em uma execução forçada.”- Enciclopédia Saraiva do Direito, pág. 298, vol 62″
No Brasil ele é regulamentado pela Lei nº 2.044 de 31 de dezembro de 1908, nos artigos 28, 29, 30 e 33, uma vez que a Lei Uniforme não cuidou a respeito e pela Lei 9.492 de 10.09.97-. Duas são as modalidades de protesto, o necessário e o facultativo.
O facultativo, utilizado como exigência enérgica contra o não pagamento e o necessário, com fins de interromper a prescrição, Cod. Comercial artigos 453 III e 454; conservar o direito de ação c/ endossantes, sacador e coobrigados, art. 15 inciso II e § 1º da Lei 5474/68 e artigos 43 e 53 da Lei Uniforme; para viabilizar o requerimento de falência, artigos 1º § 3º, 4º inciso IV e 10º da L.Falências; a constituição do devedor em mora.
Necessário e indispensável para o instituto cambiário, não é de hoje que o protesto vem sendo utilizado abusivamente, como citado em artigo de ALFREDO BUZAID, na Revista do Ministério Público de São Paulo, JUSTITIA, vol 60, já no 1º trimestre de 1968, pág.61, portanto ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1939:
“É, pois, lamentável, que de simples meio de prova, oficial e solene, da apresentação da letra e recusa, por parte do sacado, do aceite ou do pagamento, o protesto se tenha convertido em meio violento de cobrança ou intimidação, levado a efeito por intermédio do oficial do protesto. E os abusos, são tais, tantos e tão repetidos, que já constituem praxe sobreposta à lei que poucos conhecem, muitos desprezam e ninguém cumpre (João E. Borges, Protesto Cambial, em Rev. Forense, vol.124, pág. 606)”.
Tem o Protesto importância maior e de aplicação indispensável para o instituto da duplicata, que só produz efeito como título de crédito cambial após o aceite, cuja recusa é comprovada através do protesto por falta de aceite.
“Até o aceite, ou até o endosso pelo criador do título não há relação jurídica oriunda da duplicata mercantil, como título cambiariforme; -……- A relação jurídica cambiariforme, nas duplicatas mercantis, surge, com o aceite, entre o vendedor-subscritor e o comprador-aceitante, ou entre aquele e o primeiro endossatário. (Tratado de Direito Privado – Pontes de Miranda – TOMO XXXVI – pag. 16/17 -RT)
AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO
Enquanto o ato de protesto era utilizado, visando apenas os seus fins jurídicos, a medida já era encarada com certas ressalvas pela doutrina que entendia ser correto apenas a sustação dos protestos facultativos.
“O protesto necessário não pode ser sustado, mas o facultativo admite a sustação. Não poderá por exemplo, ser sustado o protesto contra devedor comerciante, quando o credor pretende requerer-lhe a falência, porque, então, o protesto é condição indispensável para o requerimento da falência, tanto que com a petição inicial o credor é obrigado a exibir o título e a certidão do protesto, nos termos do art. 11 da Lei de Falências.” (Sustação de Protesto Através do Processo Cautelar – João Mendes – Revista JUSTITIA – vol.50, pág. 165 – 1965.
Todavia, já se admitia como viável o pedido de sustação de protesto nos casos necessários, mediante prévio depósito, mesmo esta providência não estando expressa no Código de 39, que em seu artigo 688 previa a responsabilidade da parte que maliciosamente ou por erro grosseiro promovesse medida preventiva. “Esta exigência a rigor, não deveria impedir a sustação do protesto mediante prévio depósito da quantia correspondente ao crédito reclamado, uma vez que a finalidade da medida cautelar consiste, precisamente, em evitar os desastrosos efeitos decorrentes do protesto, e não elidir a falência, que é a finalidade do depósito após a citação do devedor para o processo falimentar.” João Mendes – ob.ct.
Com as constantes crises econômicas, por decorrência normal, a inadimplência, as falências e concordatas também marcam freqüência na vida comercial do país, e consequentemente vem ocorrendo uma super valoração do crédito.
Marca indiscutível de insolvência e de inadimplência, na mesma proporção que o “protesto” passou a ser utilizado como mecanismo de defesa dos comerciantes e instituições financeiras, indicador de quem merece ou não crédito, cresceu a busca de recursos contra o uso indiscriminado deste instrumento, seja para não pagar o que não se deve como também para proteção do crédito.
A sustação do protesto até o julgamento final da Ação que decidirá sobre existência ou não da relação cambiária, mercantil ou da liquidez do crédito representado, tem amparo no artigo 798 e 799 do CPC.
“A enumeração legal é, entretanto, apenas exemplificativa, pois o poder cautelar genérico não restou limitado, pelo legislador, a algumas providências práticas. Corresponde, pois, a qualquer medida, de fato ou de direito, que se faça necessário para afastar o periculum in mora.”
“Uma delas, que já vinha sendo aplicada no regime anterior, não sem oposição e relutância na jurisprudência, é a sustação do protesto cambiário, medida que agora encontra integral apoio no art. 798.” Humberto Theodoro Junior – Processo Cautelar – Leud – 9ª ed. – págs. 104/105.
Mesmo tratando-se a Ação Cautelar, de um procedimento sumário, nem sempre será possível obter a prestação jurisdicional com a brevidade pretendida, necessitando de providência que anteceda a dilação probatória, o que ocorre indiscutivelmente quando se trata de sustação de protesto, pela exiguidade do prazo.
Impossível assegurar o resultado útil da demanda, nas ações cautelares de sustação de protesto, sem uma providência liminar que anteceda o procedimento regular, mesmo em se tratando de processo sumário.
Essa providência tem amparo no artigo 804 do CPC, “é licito ao juiz conceder liminarmente ou…. sem ouvir o réu, quando verificar, que este, sendo citado, poderá torná-la ineficaz; caso em que poderá determinar que o requerente preste caução real ou fidejussória de ressarcir os danos que o requerido possa a vir a oferecer”.
Trata-se de medida que exige justificativa da iminência de dano irreversível, portanto restrita à verificação pelo Juiz e sujeita ao poder geral de cautela.
“Conforme estabelece o nosso sistema jurídico, na ação cautelar para a concessão de liminar não basta, tão-somente, a afirmação de sua necessidade formulada pelo requerente, a qual, mais das vezes, constitui uma opinião puramente subjetiva, mas, principalmente, da demonstração, por parte do requerente, da existência dos requisitos específicos da tutela cautelar, para que o juiz possa realizar a sua indispensável avaliação, e se convencer ou não da necessidade de conceder a liminar requerida (ac. un. 1.105/88 da 1ª Câm. do TJAL no agr. 5.618 rel. des. Paulo da Rocha Mendes; DJAL de 1.9.89; Adcoas 1990, n. 128.860).
Entretanto, indiscutível é a presença do periculum in mora no PROTESTO CAMBIAL, que independente de ser necessário ou facultativo, abala o crédito do comerciante ou da pessoa física, bastando a demonstração do fumus boni juris, para impedir ao magistrado do uso do poder discricionário, e conceder a tutela liminarmente, pois irreversível, exigindo ou não a garantia do autor, para reparar danos que venham sofrer o requerido.
Na busca de limitar o uso abusivo do Protesto, tem-se o uso abusivo da sustação, através de medida cautelar sem a ouvida da parte contrária, restringindo e até impedindo os efeitos da circulação cambiária.
Com o desejo de restringir também o uso abusivo das ações cautelares, passou-se a condicionar sistematicamente a sustação do protesto, à caução, e caução em depósito da importância expressa no título, que o Código não prevê com obrigatoriedade.
“Tanto a outorga de liminar quanto a exigência de caução como contra cautela pertencem à discrição do juiz. Reconhecida no caso concreto a presença dos pressupostos da ação cautelar, cabe-lhe decidir com prudência, presteza e sagacidade sobre a conveniência, ou não , da medida prévia e, na hipótese afirmativa, se condicionada ou não à garantia. (Com. ao Cod. de Processo Civil – Galeno Lacerda – pág. 346 – vol VIII – Tomo I )
Diante deste contesto o STF chegou até a decidir pela não admissibilidade da sustação do protesto cambial sem o prévio depósito do valor do título, ao apreciar o RE 89.825-SP em 26.10.79.
Essa radicalização, ainda aplicada por muitos Juizes, afronta com violação ao espirito da lei, como esta disposto nos artigos 826, 827 e 828, que especificam como podem ser as cauções: real ou fidejussória, poderá ser em dinheiro, títulos, hipoteca, penhor e fiança, quando a lei não determinar a espécie, com a faculdade de quem presta a caução indicar o modo que a pretende fazer.
“Não distinguindo o art.804 do CPC a espécie de caução a ser prestada, ao requerente é dada a faculdade de escolha entre as previstas in genere (real ou fidejussória). (ac.un. da 3ªCâm. do TJSC de 22.09.88, no agr. 4.86, rel. des. Alcides Aguiar; Jurisp. Cat. 61/182 – CPC Anotado – Alexandre de Paula – fls. 3164.
O que se tem como ideal para o instituto é a apreciação de cada caso, no uso do poder discricionário do Juiz, em manter a liminar deferida mediante a cautela, revogá-la e até mesmo mantê-la sem a garantia de caução, após ouvida a parte contrária e os fundamentos trazidos para os autos, uma vez que as características da cautelar de sustação de protesto não permite a realização destes atos, sem colocar o autor em risco de danos irreversíveis.
“Vale transcrever aqui, em abono de nossas considerações, o seguinte trecho do lúcido parecer da Procuradoria-Geral da República no citado RE 89.825: “O depósito prévio, ou caução, não é medida obrigatória. Ao juiz, em cada caso, é facultado o exame de sua necessidade. Outrossim, a prática judiciária tem demonstrado que não poucas vezes o protesto é pedido somente para constituição em mora, mas para produzir outros efeitos, que fogem ao campo do puro Direito, para diversamente, alcançar o crédito e ameaçar de ruína o comerciante, pois que o efeito prático do protesto, como ninguém desconhece, é o de produzir a imediata retratação bancária, se não o próprio corte do crédito bancário e das entidades financeiras em geral” (RT-583, pag.36 – José Adriano Marrey Neto)”
Essas medidas saneadoras da cautelar são pertencentes do poder discricionário do Juiz, que nos termos do disposto no artigo 807, pode a qualquer tempo revogar ou modificar as medidas anteriormente deferidas, seja pela constatação de que a situação colocada à sua apreciação não se revelou merecedora da cautela ou se a situação modificar-se no decorrer do processo.
“Por este motivo, se, no decurso do processo cautelar ou do processo principal, convencer-se o juiz da ausência de qualquer destes elementos, cumpre-lhe o dever de, mesmo sem provocação do interessado, revogar a medida provisoriamente decretada” Galeno Lacerda – ob.citada-pág. 393.
“Outra possibilidade de revogação ocorre dentro dos próprios autos da ação cautelar, quando deferida liminarmente a medida, na sentença final, após a summaria cognitio, conclui-se pela inexistência dos fatos ou razões autorizadoras da tutela cautelar. Julgada improcedente a ação cautelar, ipso facto, fica revogado o provimento concedido in limine litis -.Humberto Theodoro Júnior – Processo Cautelar – pag. 163-
Algumas decisões são encontradas, que fogem a essa regra de somente deferir a cautela liminarmente mediante depósito: PROTESTO CAMBIAL – Sustação – Liminar concedida – Condicionamento à caução in pecunia – Oferecimento de caução real – Substituição indeferida, em face ao condicionamento anterior, alegando imutável o despacho – art. 807 do Código de Processo Civil – Preclusão Inocorrente – Segurança concedida para a apreciação da oferta. “De qualquer maneira, exatamente porque o MM. Juiz ainda não apreciou se a caução oferecida é aceitável ou não, a segurança não pode ser concedida, desde logo, para sua aceitação, mas apenas para que o nobre impetrado aprecie a oferta de caução real, como lhe parecer de direito”. – JTACSP-Lex 59, pág. 34. MEDIDA CAUTELAR – Protesto cambial – Sustação – Desobrigatoriedade da Caução – Art. 804 do Cód. de Processo Civil – Sentença confirmada – JTACSP – lex 68 – pag. 30 .
RESPONSABILIDADE PELOS PREJUÍZOS
Causados Pelo Autor:-
O Código Processo Civil de 1939, previa a responsabilidade do vencido, que maliciosamente ou por erro grosseiro, promovesse a medida preventiva, no artigo 688.
Alfredo de Araujo Lopes da Costa, defendia a responsabilidade do exequente da medida preventiva sempre, pelos danos que a execução causasse ao executado, quando: a) realizada a providência, dentro do prazo que a lei fixasse, não ajuizasse a ação principal; b) o tribunal desse provimento ao recurso contra a decisão que houvesse decretado a providência; c) quando a sentença na ação principal fosse desfavorável ao autor – Direito Processual Civil – Vol.1 –
O Código de Processo Civil de 1973, manteve essa vantagem a favor do réu nas ações cautelares, excluindo a restrição do Código de 39, ao ato doloso ou erro grosseiro, quando deferida liminarmente, aplicando a responsabilidade objetiva, sem restrições, fortalecida ainda pela prestação, pelo autor, de garantia de caução real ou fidejussória, para ressarcir os danos que possa vir sofrer o requerido, caução essa que passou a ser regra quase que obrigatória, como acima demonstrado, nas ação de sustação de protesto.
“Na verdade, o art. 811, CPC, estabelece o direito do vencedor, em ação cautelar, a obter o ressarcimento pelos prejuízos que lhe tenha causado a medida cautelar. Trata-se, essa responsabilidade, disciplinada no citado art. 811, de responsabilidade diferente e distinta daquela regrada no art. 16 do CPC, e, mais, trata-se de responsabilidade objetiva, vale dizer, do só e exclusivo fato da vitória na medida cautelar, e , correlatamente, evidenciado o prejuízo, nasce o direito ao ressarcimento.” Revista de Processo – RT – nº 37 – Arruda Alvim – pag. 152.
“O Código estabelece, expressamente, que responda pelos prejuízos que causar a parte que, de má-fé ou não, promove medida cautelar. Basta o prejuízo, se ocorrente qualquer das espécies do art. 811, I e V (“sic”, deve ser “I a IV”), do CPC e, nesse tipo de responsabilidade objetiva processual, o pedido de liquidação é formulado nos próprios autos, com simples invocação de qualquer dos fundamentos do art. 811 do CPC” (RSTJ 104/288) Código de Processo Civil- Theotonio Negrão- Saraiva – Nota Art. 811: 1a.-.
Dispõe o parágrafo único do artigo 811 do CPC, que A indenização será liquidada nos autos do procedimento cautelar, ou seja nos próprios autos onde foi anteriormente deferida a medida liminarmente.
Diz o artigo 807 que as medidas cautelares conservam a sua eficácia na pendência do processo principal, todavia, a execução provisória da decisão pode ser iniciada imediatamente, nos termos do artigo 520, IV, CPC.
Tem-se ainda, que a decisão que defere liminarmente a medida cautelar em favor do autor, exigindo a garantia de caução, está também a deferir uma medida cautelar, de garantia em favor do requerido, a qual seja de ser ressarcido de qualquer prejuízo.
Assim, julgada improcedente a ação cautelar, habilitado está o réu a promover a execução do prejuízo que veio a sofrer, efetivando-se a garantia a ele concedida em procedimento cautelar.
O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que ” a responsabilidade definida no art. 811, do CPC é objetiva prescindindo-se, sequer da perquirição de má fé. Mais ainda, é responsabilidade de índole processual e não material – cf. RTJ 109/787, RE 100.624-GO, 1ª turma, rel. M. Soares Munõz, j. em 4.10.83).
O simples fato de deixar o réu de receber o crédito indiscutível a que teria direito na época do vencimento, sendo este obstado e retardado pelo devedor através de medida cautelar, interrompendo a circulação cambial e direito de regresso e ou impondo-lhe os encargos de uma demanda judicial e seus incômodos de ordem pessoal e moral, representa um prejuízo.
Causados pelo réu:-
O Código de Processo Civil atual, nem o anterior, dispensa ao autor da cautelar a mesma proteção deferida ao requerido.
Postulante da tutela Jurisdicional, o autor é o único responsabilizado objetivamente pela utilização da medida preventiva e ainda, quando executá-la liminarmente, restando como norma de responsabilidade do réu, aquela prevista no artigo 16 e 17 do CPC.
A responsabilidade objetiva do autor, decorre, evidentemente, da utilização indevida do recurso jurídico, sem oportunidade de defesa do réu, risco que assume, quando postula a tutela.
Entretanto, quando procedente a Ação Cautelar de Sustação de Protesto e também procedente a ação Principal, presumível é a ação antijurídica do réu, que sabedor dos efeitos maléficos do Protesto nos dias atuais, insiste em dele utilizar-se indevidamente.
Presumível também é a ocorrência de danos morais, decorrentes da apresentação para protesto de título de crédito inexigível em nome do cidadão comum ou do comerciante, devendo, por isso, o réu ser condenado de pronto.
Assim decidiu a C. nona Câmara do Primeiro Tribunal de Alçada Civil, na Apelação nº 572.056-1.
“TITULO DE CRÉDITO – Anulação de obrigação cambial. Prova de o cheque que se quer anulado foi dado como sinal e princípio de pagamento de compra e venda de imóvel. Negócio desfeito sem culpa do comprador. Inexigibilidade do cheque. Anulatória procedente. Recurso Improvido. INDENIZAÇÃO- Danos morais. Protesto de título de crédito inexigível. Ato ilícito. Efeito deletério do protesto que é notório. Desnecessidade, pois, da prova do dano. …… Para compelir ao pagamento, fez protestar a tal cártula abusivamente, indiferente à reputação do emitente…. visto como o dano moral se presume, sendo bastante que a conduta antijurídica do causador tenha a aptidão de atentar contra a reputação da vítima. Ademais , é do conhecimento de todos os efeitos nocivos do protesto para a reputação do cidadão, que acaba mais discriminado que o falido,….-.”
CONCLUSÃO
De tudo o quanto acima foi avaliado, pode ser concluído que o Juiz do Processo tem em mãos instrumentos processuais capazes de garantir e ou prevenir, tanto o autor como o réu da ação cautelar de sustação de protesto, dos males do uso indiscriminado tanto do protesto como da ação cautelar, sem restringi-los de modo generalizado com a imposição de exigências, sem distinguir cada uma das situações.
Pode ele perfeitamente deferir a sustação do protesto liminarmente sem a garantia, vindo a exigi-la ou não, após a contestação, quando poderá até revogar a medida liminarmente deferida; reter a caução até 30 dias após a decisão de improcedência da ação cautelar, permitindo que o réu promova a execução dos danos sofridos nos mesmos autos, assim como condenar o réu na reparação dos danos causados com o protesto indevido.
Autor: Antonio Luiz Bueno de Macedo
OAB/SP nº 40.355
Introdução:
Denomina-se poder discricionário, o poder de escolher dentro de certos limites, a providência que adotará, tudo mediante a consideração da oportunidade e da conveniência, em face de determinada situação não regulada expressamente pela lei.
“José Cretella Júnior – Ao livre e legal pronunciamento da autoridade administrativa que, consultando a oportunidade e a conveniência da medida, se traduz em ato desvinculado de prévia regra estrita de direito condicionante de seu modo de agir, num dado momento, damos o nome de poder discricionário da administração”. (Enciclopédia Saraiva do Direito- vol 59, pág. 95)
Há na doutrina posições contrárias à existência de poder discricionário aos magistrados, distinguindo conceito discricionário com conceito jurídico indeterminado.
Entretanto, a grande maioria dos doutrinadores processualistas acatam a existência de atuação discricionária do juiz e entre eles Moniz de Aragão, in “Medidas Cautelares Inominadas”, Revista Brasileira de Direito Processual, 57/33 dispõe: costuma-se referir a atuação discricionária do juiz no desempenho do chamado poder cautelar geral, em cujo exercício lhe é permitido autorizar a prática, ou impor a abstenção, de determinados atos, não previstos em lei ou nesta indicados apenas exemplificativamente”.
A realidade é que o Juiz tem no exercício de sua atividade de dizer qual é o direito, quem tem o direito e satisfazer esse direito, devendo ter os instrumentos necessários para garantir a certeza dessa atividade, enquanto não puder efetivá-la.
Um dos grande males do processo é o tempo, que da mesma forma que é indispensável ao juíz para que conheça os fatos é indispensável para a garantia dos princípios processuais da ampla defesa e da igualdade das partes mas é responsável pela demora na entrega da tutela jurisdicional, quando então concorre para que ocorra injustiça.
Por isso, a ciência processual tem significativa preocupação com o tempo na solução dos litígios, determinando a retroatividade da eficácia da tutela, devendo a sentença ser aplicada levando-se em conta o momento de proposição da ação e até antes, quando da ocorrência dos fatos causadores do litígio.
“Chiovenda disse com clareza e precisão ” o processo deve dar na medida do que for praticamente possível a quem tem um direito tudo aquilo e precisamente aquilo que ele tem o direito de obter” ( il processo deve dare por quanto posibile praticamente a chi há un diritto tutto quello ch’ egli há diritto di consiguire.)
Dispõe a Constituição Federal em seu artigo 5º inciso XXXV, que não será excluído da apreciação do Poder Judiciário, não só a lesão de direito mas também a ameaça de lesão ao direito.
Visando não só garantir a solução do litígio reparando ou evitando que o dano ocorra, mas também a preservação do prestígio devido e necessário ao Poder Jurisdicional de forma que a busca do amparo judicial não torne causa de prejuízo ao cidadão, o direito processual dispõe de tutelas preventivas principais e tutelas preventivas cautelares.
São tutelas preventivas principais aquelas em que o autor demonstra exaustivamente seu direito e obterá sentença definitiva que impedirá o dano ameaçado – interdito proibitório – ação declaratória – mandado de segurança preventivo.
São tutelas preventivas cautelares aquelas deferidas para evitar que o processo principal perca a sua natural e indispensável função de solucionar a lide de forma justa.
As medidas cautelares são tratadas pelo C.P.C. atual no livro III, relacionando no seu Capitulo II uma série de procedimentos específicos.
Entretanto, no Capítulo I, estabelece em seus artigos 797,798, 799 e 804 poderes para que o Juiz possa determinar as medidas que entender necessárias e adequadas para garantia de que as partes não sofram lesão aos seus direitos antes do julgamento definitivo da lide
Com essas disposições, o Código colocou à disposição do Juíz, alem das tutelas cautelares especificas, uma tutela cautelar genérica, denominada tutela cautelar inominada ou atípica.
Esse poder deferido ao Juiz, de poder deferir qualquer medida acautelatória, tendo em vista a situação de cada caso, é um poder essencialmente discricionário, considerando a oportunidade e a conveniência de sua adoção, é denominado pela doutrina como Poder Geral de Cautela do Juiz.
Galeno Lacerda, in Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, VIII Vol , Tomo I, 2ª Edição, considera tal atribuição como a mais importante e delicada atribuição confiada à magistratura, declamando Curet, “uma compreensão viva, um conhecimento profundo do direito e da jurisprudência, ao mesmo tempo que um espírito sagaz e pronto a apreender, de imediato, a solução motivada que se lhe solicite” (De la Juridiction des Référés, I, Paris, 1907, pág. 1)
Para ele, “No exercício desse imenso e indeterminado poder de ordenar as medidas provisórias que julgar adequadas para evitar o dano à parte, provocado ou ameaçado pelo adversário, a discrição do juiz assume proporções quase absolutas. Estamos em presença de autêntica norma em branco, que confere ao magistrado, dentro do estado de direito, um poder puro, idêntico ao do pretor romano, quando, no exercício do impérium, decretava os interdicta..
“PROCESSUAL CIVIL- Agravo de Instrumento – Tutela Antecipada – Poder geral do juiz. I – A concessão da tutela antecipada é prerrogativa do poder geral do juiz e só deve ser cassada em caso de ilegalidade ou abuso de poder; II Recurso provido” (Ac. un da 1ª T do TRF da 2ª R – Ag 025454 – DJU2 02.03.99, p. 63 – ementa oficial) IOB 3/15443.
O Conteúdo da Tutela Cautelar vem explicitada no artigo 799, o qual aparentemente se exauri na ordem de guarda judicial de pessoas e depósitos de bens e impor a prestação de caução.
Entretanto, como grande defensor do amplo poder geral de cautela, Galeno Lacerda demonstra com incontestável lógica, que a exemplificação do artigo não possui caráter exaustivo, nem restritivo, ao seu objeto.
O dispositivo divide-se em duas partes, sendo uma geral, ampla e indefinida “autorizar ou vedar a prática de determinados atos” a outra, exemplificativa “ordenar a guarda judicial de pessoas e depósito de bens e impor a prestação de caução”
Deferimento da cautela ex offício:
O Poder Geral de Cautela do Juiz está presente no Processo de Conhecimento e de Execução, com previsão também nos artigo 266 e 793:
“266….poderá o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes, a fim de evitar dano irreparável.” “793….
As disposições destes artigos têm comando geral e irrestrito, sem vincular a decisão do magistrado ao pedido das partes, donde se conclui que poderá determinar a realização de atos comissivos e omissivos de ofício, abrangendo todas as medidas cautelares, previstas no Código ou não.
A prestação da tutela cautelar inominada incidental e deferida de ofício pelo juiz é defendida pelo Processualista Nelson Nery Jr.:
“- Revista de Processo – RT- nº 53, pág. 193 – A terceira corrente, que nos parece a mais acertada, admite conceda o juiz providência cautelar de of[icio, somente em se tratando de cautelar incidente. A nosso juízo está correto este posicionamento, porquanto deve haver harmonia entre os artigos 2º, 797, 798,799 do CPC, no sentido de ser respeitado o princípio da demanda.. Uma vez já provocada a atividade jurisdicional com o ajuizamento da ação, no curso do processo poderá o juiz, ex offício, determinar medidas cautelares para assegurar a efetiva realização do processo de conhecimento ou de execução”.
Tem a mesma posição Vicente Greco Filho, Direito Processual Civil Brasileiro, 3º Vol. Ed. Saraiva, pág. 156, “b- nos próprios autos do processo de conhecimento ou de execução, quando uma situação de emergência exige a atuação imediata do juiz independentemente de processo cautelar e mesmo de iniciativa da parte. Esta segunda forma de manifestação do poder cautelar geral do juiz tem sido menos estudada pelos autores, que desenvolvem mais sua preocupação sobre as medidas inominadas a serem decididas em procedimento cautelar formal.
Essa posição já era defendida por Vicente Greco Filho, quando ainda exercia a Procuradoria de Justiça, nos idos de 1984, em artigo NOTAS SOBRE MEDIDAS CAUTELARES E PROVIMENTO DEFINITIVO, na revista JUSTITIA editada pelo Ministério Público de São Paulo, nº 125, pág. 88.
GALENO LACERDA, analisa a iniciativa do Juiz nas tutelas de segurança, à luz do interesse público ou social, quando todas elas se justificam, fazendo uma interpretação analógica dos artigos 797, 798 e 888, pela disposições neles contidas : ” ……. determinará o juiz medidas cautelares sem a audiência das partes;….
O artigo 797 cuida do poder legal do juiz de decretar medidas cautelares “sem audiência das partes” isto é no plural, sem audiência do autor e do réu. Em outras palavras consagra-se a cautela de – ofício.” ……art. 798…..poderá o juiz determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio………Art. 888……Em todos estes casos, patente como é o interesse público ou de ordem social, prescreve a providência…..poderá ordenar ou autorizar. ( Com. ao Cad. Proc. Civil, Forense).
Deferimento inaudita altera pars da tutela cautelar
A prestação da tutela cautelar pelo Juiz mesmo antes de ouvir a parte contrária, é requisito da necessidade de pronta e eficaz garantia contra os riscos ao direito ou interesse de um dos litigantes com consequente ocorrência de danos durante o desenvolvimento do processo de conhecimento.
Esse efeito do Poder Geral de Cautela do Juiz encontra-se expresso no artigo 804 do CPC. É lícito ao juiz conceder liminarmente ou após justificação prévia a medida cautelar, sem ouvir o réu…
A Reforma do CPC: Tutela Antecipada e Poder de Cautela Geral
Expansão do Processo Cautelar
Com a rejeição da jurisprudência e doutrina em admitir a antecipação dos efeitos da tutela definitiva e a necessidade cada vez mais evidente, de um instrumento eficiente na forma e no tempo para que o juiz pudesse garantir ao consumidor da tutela jurisdicional a eficácia plena de sua decisão no processo de conhecimento, acabou sendo deturpada a natureza da tutela cautelar com a dessiminação da prestação liminar da tutelas cautelares satisfativas.
A reforma do CPC veio fortalecer e ampliar o poder discricionário do Juiz, rompendo com a sua limitação às tutelas cautelares, para armá-lo com o instrumento da Antecipação da Tutela, podendo antecipar a eficácia, ainda que provisóriamente, da decisão de mérito, uma tutela preventiva provisória, sempre que entender adequada e necessária.
Para Cândido Rangel Dinamarco, A Reforma do Código de Processo Civil, 2ª Edição, Edt. Malheiros, “é uma arma poderosa contra os males corrosivos do tempo no processo”
Há doutrinadores como José Joaquim Calmon de Passos, que não vêm no Instituto da antecipação da Tutela, poder discricionário do Juízo, defendendo a posição de que a expressão poderá do artigo 273 não é uma faculdade a ele deferida. “Se a lei põe os pressupostos de seu deferimento, cria em favor da parte o direito de obtê-la” Comentários ao Código de Processo Civil, vol III, 8ª edição, Edt. Forense, pág.22.
Confrontando essa posição, Cândido R. Dinamarco, obr. Cit., pág. 140, expõe: “A discricionariedade do juiz na concessão da tutela antecipada reflete-se ainda no poder, que a lei expressamente lhe dá, de a qualquer tempo (antes da sentença, é claro) revogar ou modificar a medida concedida (art. 273, § 4º)”.
Antecipação da Tutela inauldita altera pars
O artigo 273 do CPC não estabelece um limite temporal para concessão da antecipação da tutela, que pode ocorrer desde a propositura da ação até a prolação da sentença definitiva.
Não contem os dispositivos do instituto da Antecipação da Tutela nenhum impedimento ao seu deferimento antes da citação do réu.
Posições contrárias a essa possibilidade argumentam que tal medida, tratando-se antecipação dos efeitos da tutela, portanto satisfativa, afronta o principio do contraditório. Entretanto, ela representa uma limitação ao princípio, o qual fica deferido para um momento posterior do procedimento, uma vez que não se trata de juízo final.
Algumas decisões já começam a surgir nesse sentido:
“Quando a lei criou o instituto da antecipação da tutela jurisdicional, à similitude das cautelares, não impediu que ela fosse outorgada antes da formação da triangularidade processual, bastando haver adminículos probatórios, de pronto, anexados ao exórdio. Provas boas, firmes e formadoras de certa convicção bastam para o deferimento da antecipação da tutela, mesmo porque não se trata de juízo finalístico no processo.” 7ª Câm. Civ. do TAMG- RT 749/418
“A antecipação da tutela sem audiência da parte contrária é providência excepcional, autorizada apenas quando a convocação do réu contribuir para a consumação do dano que se busca evitar (273 do CPC)” 3ªCâm. de D. Privado do TJSP – RT 764/221
Antonio Claudio da Costa Machado, defende a Antecipação da Tutela liminarmente, com aplicação analógica do § 3ºdo art. 461 do CPC e do art. 804 como autorizadores da realização de audiência de justificação prévia para deferimento liminarmente da antecipação:
“frente à disciplina global da tutela antecipatória que é integrada por certo sistema pelo § 3º do artigo 401, está autorizada pelo sistema a invocação analógica deste último dispositivo para permitir ao juiz realizar audiência de justificação prévia no âmbito da outorga da providência genérica do art. 273.(Tutéla Antecipada, 3º ed. Ed. Juarez de Oliveira, pág. 557)
Limites ao Poder Discricionário
Rodolfo de Camargo Mancuso, em artigo publicado na RT nº 643, A Tutela Judicial na Segurança, pág. 39/40 cita Galeno Lacerda: “Discricionariedade – “Discrição” não significa arbitrariedade, mas liberdade de escolha e de determinação dentro dos limites da Lei”
São limites do poder geral de cautela:
– não pode antecipar decisão sobre a lide principal;
– não é dado a juiz conceder um bem superior ou de outra natureza;
– é inaceitável a concessão de uma medida cautelar que se revele impraticável na execução da ação principal;
– não é incondicional, prende-se às mesmas condições da tutela cautelar típica;
– o Direito Material há que preexistir – o fumus boni iuris -;
– não se pode decretar segurança atípica, quando contar com a segurança típica;
– não se admite tutela cautelar para suspender eficácia de decisão judicial.
Conclusão
Tem o Juiz no desempenho do Poder Cautelar Geral à sua disposição : tutela preventiva definitiva, tutela preventiva provisória e tutela preventiva cautelar.
A Jurisprudência já está se tornando pacífica na admissão de que o Juiz, também no Instituto da Tutela Antecipada, tal qual nas Ações Cautelares Inominadas, possui o poder geral de cautela.
Os Magistrados se não têm o Poder Discricionário, tal qual do Direito Administrativo, têm um amplo poder para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, sendo necessário que utilizem esse poder nos exatos termos expressos por Candido Rangel Dinamarco: uma arma poderosa contra os males corrosivos do tempo no processo”
O exemplo das Cautelares Satisfativas não pode ser desprezado e a prática do deferimento da Tutela Antecipada inaudita altera pars e a adoção de medidas cautelares inominadas incidental ex offício, devem tornar-se prática comum, evidentemente com a prudência e responsabilidade que exige.
Autor: Antonio Luiz Bueno de Macedo
OAB/SP nº 40.355
Introdução:
A Lei nº 8.429 de 02.06.1992 – Conhecida como “lei do colarinho branco” veio regulamentar o parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal: “A administração pública direta e indireta ou fundacional….. obedecerá aos princípios…….. e também, ao seguinte: § 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
A norma em questão revogou a Lei nº 3.164 de 1º de junho de 1957 que previa o seqüestro de bens do servidor público adquirido por influência ou abuso de cargo ou função pública e revogou também a Lei nº 3.502 de 21 de dezembro de 1958 que complementava a Lei nº 3.164, regulamentando o seqüestro e o perdimento de bens de servidor público da administração direta e indireta, nos casos de enriquecimento ilícito, por influência ou abuso de cargo ou função.
As normas revogadas não eram instrumentos adequados, deixando muito a desejar sobre a definição do conteúdo da expressão influência ou abuso de cargo e impondo dificuldades para a caracterização do enriquecimento ilícito, como se daria a sua apuração, motivo pelo qual muito pouco se ouviu falar em aplicação das penas previstas durante a longa vigência que tiveram.
A nova norma, alem de definir as situações que configuram atos de improbidade administrativa e escalonar a aplicação de penas na esfera administrativa, civil e penal, também formaliza o sistema de apuração.
Improbidade Administrativa é o designativo técnico para a chamada corrupção administrativa, que, sob diversas formas, promove o desvirtuamento da Administração Pública e afronta os princípios nucleares da ordem jurídica (Estado de Direito, Democrático e Republicano) revelando-se pela obtenção de vantagens patrimoniais indevidas às expensas do erário, pelo exercício nocivo das funções e empregos públicos, pelo “tráfico de influência” nas esferas da Administração Pública e pelo favorecimento de poucos em detrimento dos interesses da sociedade, mediante a concessão de obséquios e privilégios ilícitos. (1)
Assim constitui improbidade administrativa por enriquecimento ilícito (artigo 9º) atos que importem auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do cargo, mandato, função, emprego ou atividade.
Constitui também improbidade administrativa atos que causem lesão ao erário p/ação ou omissão, dolosa ou culposa, ainda que não receba direta ou indiretamente qualquer vantagem (artigo 10º).
E no artigo 11º, define ainda como improbidade administrativa, a ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições.
Qualquer das improbidades são punidas com a perda de bens ou valores acrescidos ao patrimônio do responsável, o ressarcimentos de danos causados ao erário, a perda da função, suspensão dos direitos políticos de 3 a 10 anos, multa e impossibilidade de contratação com órgãos de administração pública.
Processo Administrativo, Inquérito Policial e Ação Judicial
Qualquer pessoa e o Ministério Público poderão representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurado o processo de apuração da pratica do ato de improbidade administrativa.
Prevê a lei que a representação que será escrita ou reduzida a termo e assinada, conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento.
A autoridade só poderá rejeitar a representação se esta não estiver de acordo com as formalidades previstas, por despacho fundamentado, sendo certo, que a rejeição não impede a representação ao Ministério Público.
A comissão processante é obrigada a dar conhecimento ao M.. PÚBLICO E AO TRIBUNAL DE CONTAS da existência de procedimento ou processo administrativo para apuração da prática de ato de improbidade, para que acompanhem, os quais poderão ser representados.
Havendo fundados indícios da responsabilidade do indiciado a comissão poderá representar ao Ministério Público ou à procuradoria do órgão público afetado, para que requeiram o seqüestro de bens do agente ou terceiro para garantia do ressarcimento das vantagens ou dos danos causados.
Havendo ilícitos penais o M. Público poderá de ofício ou a requerimento da autoridade administrativa requisitar a instauração de inquérito policial.
A aplicação das penalidades previstas, cíveis ou penais e a perda da função pública e suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória.
Legitimidade:
A legitimidade da Ação de Reparação de Danos ou perda dos bens havidos ilicitamente está reservada expressamente no artigo 17 da Lei, ao representante do Ministério Público e à Fazenda Pública pela sua procuradoria.
Entretanto muito tem se discutido e bastante controvertida é a jurisprudência a respeito da Legitimidade do representante do Ministério Público para a proposição de Ação Civil Pública e do Inquérito Civil Público, visando a condenação dos agentes públicos e terceiros pela pratica de atos de improbidade.
Essa questão já foi alvo de questionamento quando vigentes as normas revogadas envolvendo a competência da Ação Civil Pública com a da Ação Popular, tendo a jurisprudência se firmado em prol da segunda.
1- Atualmente a corrente favorável à legitimidade do M. Público vem se fundamentando no artigo 129 inciso III da Constituição Federal vigente que estabelece: São funções institucionais do Ministério Público:……III- promover o inquérito e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; e nos artigos 16 e 17 da Lei nº 8.429/92 que estabelecem: art. 16 – Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao M.Público ou à Procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente a decretação do seqüestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público. – Art. 17- A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.
2- Corrente contrária à legitimidade do M.Público para o inquérito e a ação civil pública decorrentes de atos de improbidades fundamenta-se nos termos da Lei 8.429 que ao definir o rito para estas ações estabeleceu o procedimento ordinário, devendo reger-se pelo CPC.
A corrente contrária ampara-se também na disposição do inciso IX do artigo 129 da C.Federal, porque exercer a defesa do patrimônio público implica exercício da representação judicial das entidades públicas.
” CF art. 129 – IX – ………..sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas.
E ainda, porque manteve a constituição vigente a ação popular como instrumento para a defesa do patrimônio público, sendo parte legítima qualquer cidadão. Art. 5º inciso LXXIII.
3- A jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo é dominante com o entendimento da legitimidade do MP e o cabimento da ação civil pública para a defesa do patrimônio público:
Apelação Cível nº 512-5/5 – Acórdão da Nona Câmara “JULHO/97” – “AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Ato de improbidade – Legitimidade ativa do Ministério Público……”- É inegável que o representante do Ministério Público é parte legítima para promover o ajuizamento da ação civil pública, e a sua legitimidade ad causam vem evidenciada no artigo 5º da Lei nº 7.347/85 e no artigo 129, inciso III, da Constituição da República.
A jurisprudência dominante do E. TJSP já encontra amparo na jurisprudência que vem se firmando no E. Superior Tribunal de Justiça, RT 727/138, RSTJ 27.493.
Conclusão:
I- AÇÃO – O repudio geral da sociedade pelo noticiário diuturno da prática de atos de improbidade administrativa, premiados com a impunidade, fez com que o constituinte buscasse a regulamentação de normas eficazes, com imposição de penas visando a reparação dos danos causados ao erário, a punição administrativa com perda da função de forma a afastar o agente do patrimônio público e a privação de liberdade.
Em face desse quadro, a legitimação do Ministério Público para promover a Ação Civil Pública na defesa do patrimônio público tem respaldo em três fundamentos.
- a) A ação popular, instrumento colocado à disposição do povo para defesa do patrimônio e da moralidade pública, demonstrou que na maioria das vezes em que foi utilizada, esteve sempre comprometida com objetivos político-partidário, tornando-a de eficiência questionável;
- b) A inexistência de conflito entre os incisos III e IX do artigo 129 da Constituição – O Patrimônio Público inserido no inciso III e a defesa da moralidade administrativa constituem-se também em interesses supra-individuais, interesses difusos. O disposto no inciso IX veda a representação judicial das entidades públicas, a qual será exercida nas ações por improbidade pela procuradoria do órgão lesado. Os danos causado ao patrimônio público e à moralidade administrativa atinge diretamente o órgão lesado, mas atinge também indiretamente toda a população.
- c) A legitimação não é exclusiva e sim concorrente com a entidade pública e com qualquer cidadão, diante da importância que se apresenta a defesa do patrimônio público que é de todos, devendo a sua gestão pautar-se pela moralidade administrativa. Nem sempre a direção do órgão lesado tem interesse no uso de sua legitimidade. Assim, tem a entidade pública legitimidade para defesa de direito próprio; O Ministério Público legitimidade para defesa do interesse do povo; e qualquer cidadão, legitimidade para a defesa de seu interesse e da coletividade através da Ação Popular.
II- INQUÉRITO – A jurisprudência tem caminhado no sentido de que os mesmos fundamentos que dão legitimidade ao Ministério Público para a ação civil pública decorrente de ato de improbidade administrativa dão legitimidade para a promoção de inquérito civil público.
Entretanto se as disposições expressas nos artigos 16 e 17 da Lei 8429/92 têm total simetria com as disposições do artigo 129 da constituição federal, o que não acontece com o seu artigo 22 que determina:
“Para apurar qualquer ilícito previsto nesta Lei, o Ministério Público, de ofício, a requerimento de autoridade administrativa ou mediante representação formulada de acordo com o disposto no art.14 poderá requisitar a instauração de inquérito policial ou procedimento administrativo”.
A investigação e apuração da pratica de atos de improbidade administrativa pelo M. Público importaria em violação de funções destinadas ao Poder Executivo. O servidor público terá os seus atos investigados pela autoridade administrativa, garantido o direito de ampla defesa e se tais atos importarem em ilícitos penais a investigação será exercida pela autoridade Policial.
A inércia e a parcialidade das autoridades administrativas no procedimento administrativo serão objetos do controle externo a ser exercido não só pelo M. Público mas também pelo Tribunal de Contas.
Qualquer interpretação contraria do dispositivo legal mencionado importa em infringir o artigo 5º inciso LIV – ” direito ao devido processo legal “. O devido processo legal para apuração de infrações administrativas é o processo administrativo na sua forma e competência legalmente prevista.(Lei Federal nº 9.784/99 e Lei Estadual/SP nº 10.177/98)
” SERVIDOR PÚBLICO – Demissão por Improbidade administrativa – Legitimidade do ato – Direito de defesa assegurado. Ementa Oficial : Demissão por improbidade administrativa, precedido o ato demissório de procedimento administrativo regular, em que à acusada foi assegurado o direito de defesa. Legitimidade, sob tal aspecto, do ato. MS- 21.922-0-RO – Tribunal Pleno do STF – RT- 735/198.
Marino Pazzaglini Filho, Márcio Fernando Elias Rose e Waldo Fazzio Júnior, membros do Ministério Público, defendem a tese de que o Procedimento Administrativo previsto na Lei 8.429/92 : “Trata-se de medida que deve ser adotada fundamentalmente, como diligência instrutória no âmbito do inquérito civil, não como sua substituta” “Não se busca o sancionamento administrativo ou funcional do agente público, mas a coleta de subsídios tendentes a instruir o inquérito civil e a eventual ação civil pública.”
Segundo esse entendimento o processo administrativo da Lei nº 8429/92 seria uma sindicância para instruir o Inquérito Civil Público, com o que não se pode concordar.
NOTAS
PAZZAGLINI FILHO, Marino; ELIAS ROSA, Márcio Fernando e FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Improbidade Administrativa, Edtora Atlas, 1996, pág. 35.
BIBLIOGRAFIA
PAZZAGLINI FILHO, Marino; ELIAS ROSA, Márcio Fernando; FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Improbidade Administrativa, Editora Atlas, 1996
MASCARENHAS, Paulo. Improbidade Administrativa e Crime de Responsabilidade de Prefeito, LED Editora, 1999;
MAZZILLI, Hugro Nigro. A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo, Ed. RT, 6ª Edição;
MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação Civil Pública, Ed. RT, 3ª Edição;
SALGADO FILHO, Nilo Spinola e MARTINS JÚNIOR, Wallace Paiva. Ação Civil Pública: Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa. Revista dos Tribunais nº 735, p. 161, janeiro de 1997.
Autor: Antonio Luiz Bueno de Macedo
OAB/SP nº 40.355